
Texto adicional: “Para nossa sorte, não existe nenhum nietzscheano do mal”
Ciências sociais, ficção, tradução
Textos traduzidos.

Texto adicional: “Para nossa sorte, não existe nenhum nietzscheano do mal”
Tradução de “Would a Work-Free World Be So Bad?”, publicado no The Atlantic.
O medo de um ócio a nível de civilização se baseia demais nas consequências negativas do desemprego numa sociedade baseada no conceito de emprego.
As pessoas têm especulado há séculos quanto a um futuro sem trabalho e hoje não é diferente, com acadêmicos, escritores e ativistas mais uma vez alertando que a tecnologia está substituindo trabalhadores humanos. Alguns imaginam que o mundo sem trabalho que está por vir será definido pela desigualdade: alguns poucos ricos vão possuir todo o capital, enquanto as massas passarão dificuldade numa terra empobrecida.
Uma previsão diferente, menos paranoica porém não mutuamente exclusiva, mantém que o futuro será um desastre de um tipo diferente, caracterizado pela falta de propósito: sem empregos para dar sentido à vida, as pessoas vão simplesmente se tornar preguiçosas e deprimidas. De fato, os desempregados de hoje não parecem estar se dando muito bem. Segundo uma pesquisa da Gallup, 20 por cento dos estadunidenses que estão desempregados há pelo menos um ano disseram ter depressão, o dobro da taxa entre empregados. Além disso, algumas pesquisas sugerem que a explicação para taxas mais altas de mortalidade, problemas de saúde mental e vícios entre pessoas de meia-idade com menos educação formal é a falta de trabalhos com bons salários. Outro estudo mostra que as pessoas são frequentemente mais felizes no trabalho do que em seus tempos livres. Talvez seja essa a razão por que tantos se preocupam com o tédio agonizante de um futuro sem trabalho.
Mas a partir dessas descobertas não necessariamente se conclui que um mundo sem trabalho seria um mundo de mal-estar. Tais visões de futuro são baseadas nas consequências negativas do desemprego em uma sociedade baseada no conceito de emprego. Na ausência de trabalho, uma sociedade projetada com outros objetivos em mente poderia produzir circunstâncias enormemente diferentes em termos de trabalho e lazer. Hoje, a virtude do trabalho pode estar sendo um pouco superestimada. “Muitos trabalhos são chatos, degradantes, insalubres, um desperdício de potencial humano”, diz John Danaher, pesquisador da Universidade Nacional da Irlanda, em Galway, que escreveu sobre um mundo sem trabalho. “Pesquisas globais têm descoberto que a vasta maioria das pessoas são infelizes no trabalho”.
Atualmente, já que o tempo para lazer é relativamente escasso para a maioria dos trabalhadores, as pessoas usam o tempo livre para contrabalancear as demandas intelectuais e emocionais de seus trabalhos. “Quando eu chego em casa de um dia puxado de trabalho, eu geralmente me sinto cansado”, Danaher diz, adicionando que “em um mundo em que eu não tenho que trabalhar, eu posso me sentir de outra forma” – talvez de modo a investir em hobbies ou paixões com a intensidade que geralmente se reserva para assuntos profissionais.
Ter um trabalho pode assegurar um pouco de estabilidade financeira, mas além de se estressar com as necessidades da vida, os desempregados de hoje são frequentemente marginalizados. “Pessoas que evitam trabalhar são vistas como parasitas”, diz Danaher. Talvez como resultado dessa atitude cultural, a auto-estima e a identidade da maioria das pessoas estão intimamente ligadas aos seus trabalhos, ou à falta de um.
Ademais, em muitas sociedades contemporâneas, o desemprego pode ser simplesmente chato. Muitas cidades americanas de pequeno e médio porte não são de fato organizadas com uma abundância de tempo livre em mente: espaços públicos tendem a ser pequenas ilhas no oceano da propriedade privada, e não há muitos lugares gratuitos em que adultos possam conhecer novas pessoas ou entreter uns aos outros. As raízes desse tédio podem ser ainda mais profundas. Peter Gray, um professor de psicologia na Boston College que estuda o conceito de brincadeira [play], pensa que se os empregos desaparecessem amanhã, as pessoas poderiam ficar confusas quanto ao quê fazer, ficando entediadas e deprimidas porque esqueceram como brincar. “Ensinamos crianças a distinção entre brincadeira e trabalho”, Gray explica. “Trabalho é algo que você não quer fazer mas é obrigado a fazer”. Ele diz que esse treinamento, que começa na escola, eventualmente “extrai a brincadeira” das mentes das crianças, que viram adultos que ficam sem saber o que fazer quando têm tempo livre.
“Às vezes as pessoas se aposentam, e não sabem o que fazer”, afirma Gray. “Elas perderam a habilidade de criar suas próprias atividades”. Isso aparentemente nunca é um problema para crianças pequenas. “Não há nenhuma criança de três anos de idade que vai ficar preguiçosa e deprimida porque não têm uma atividade estruturada”, diz ele.
Mas as coisas precisam ser assim? Sociedades sem trabalho são mais do que apenas um experimento mental – elas existiram ao longo da história humana. Considere os caçadores-coletores, que não têm chefes, salários, ou oito horas de trabalho por dia. Há dez mil anos, todos os humanos eram caçadores-coletores, e alguns ainda são. Daniel Everett, um antropólogo na Bentley University, em Massachusetts, passou anos estudando um grupo de caçadores-coletores na Amazônia, os Pirahã. De acordo com Everett, enquanto alguns consideram que a caça e a coleta seriam uma forma de trabalho, os Pirahã não o fazem. “Eles pensam nessas coisas como uma diversão”, ele diz. “Eles não têm um conceito de trabalho da forma como temos”.
“É uma vida bem tranquila na maior parte do tempo”, diz Everett. Ele descreve um dia típico para os Pirahã: um homem acorda, gasta algumas horas andando de canoa e pescando, depois faz um churrasco, nada um pouco, traz o peixe de volta para sua família, e brinca até a noite. Esse tipo de vida com base em subsistência certamente não deixa de ter seus problemas, mas o antropólogo Marshall Sahlins argumentou num ensaio em 1968 que caçadores-coletores pertencem à “sociedade afluente original”, uma vez que eles “trabalhavam” apenas algumas horas por dia; Everett estima que os adultos Pirahã trabalham em média 20 horas por semana (sem contar que não têm chefes olhando por cima de seus ombros). Enquanto isso, de acordo com estatísticas oficiais, o Estadunidense médio empregado, com filhos, trabalha cerca de nove horas por dia.
Essa vida divertida leva à depressão e à falta de propósito que observamos entre tantos que hoje têm emprego? “Eu nunca vi nada remotamente parecido com a depressão lá, exceto pessoas que estão fisicamente doentes”, diz Everett. “Eles se divertem pra caramba. Eles brincam o tempo todo”. Enquanto muitos consideram que o trabalho é um fundamento da vida humana, o trabalho como ele existe hoje é uma invenção relativamente nova nos milênios de anos de cultura humana. “Pensamos que é ruim ficar sentado por aí sem nada para fazer”, diz Everett. “Para os Pirahã, é uma coisa bem desejável”.
Gray compara esses aspectos do estilo de vida caçador-coletor com as aventuras despreocupadas de muitas crianças em países desenvolvidos, das quais espera-se que em algum ponto de suas vidas deixem essas coisas infantis de lado. Mas nem sempre foi assim. De acordo com o livro A Social History of Leisure Since 1600, publicado em 1990 e escrito por Gary Cross, o tempo livre nos Estados Unidos era bastante diferente antes dos séculos XVIII e XIX. Fazendeiros – uma maneira bastante razoável de descrever um enorme número dos estadunidenses daquela época – misturavam trabalho e brincadeira em seus cotidianos. Não havia gerentes ou fiscais, então eles trabalhavam, faziam pausas, jogavam com vizinhos, faziam pegadinhas, e gastavam tempo com a família e os amigos conforme quisessem, trocando de atividade com fluidez. Sem contar os festivais e outros eventos: a França, por exemplo, tinha 84 feriados por ano em 1700, e o clima tornava o trabalho impossível por mais ou menos outros 80 dias por ano.
Isso tudo mudou, escreve Cross, durante a Revolução Industrial, que ajudou a substituir as fazendas com fábricas e os fazendeiros com empregados. Os donos das fábricas criaram um ambiente mais rigidamente controlado que claramente separava o trabalho do lazer. Enquanto isso, relógios – que estavam se disseminando na época – começaram a dar um ritmo mais acelerado à vida, e líderes religiosos, que tradicionalmente aprovavam as festividades, começaram a associar o lazer com o pecado e tentaram substituir festivais agitados por sermões.
À medida que os trabalhadores começaram a se mudar para as cidades, as famílias não passavam mais seus dias juntos na fazenda. Em vez disso, os homens trabalhavam nas fábricas, enquanto as mulheres ficavam em casa ou trabalhavam nas fábricas, e as crianças iam para a escola, ficavam em casa, ou trabalhavam nas fábricas também. Durante o trabalho as famílias ficavam fisicamente separadas, o que afetou a forma como se entretinham. Adultos pararam de participar de jogos e esportes “infantis”, e a diversão foi em grande parte eliminada das ruas à medida que famílias de classe média e alta consideravam as atividades do proletariado, como brigas de galo e jogos de azar, desagradáveis. Muitas dessas diversões foram logo banidas por lei.
Com as velhas válvulas de escape dos trabalhadores desaparecendo em meio à fumaça industrial, muitos deles se voltaram para atividades novas, mais urbanas. Bares se tornaram um refúgio em que trabalhadores cansados bebiam e assistiam a shows ao vivo com música e dança. Se tempo livre significa cerveja e TV para a maioria das pessoas nos Estados Unidos, esse pode ser o motivo.
De vez em quando, sociedades desenvolvidas produziram, para alguns poucos privilegiados, estilos de vida que eram quase tão brincalhões quanto o dos caçadores-coletores. Através da história, aristocratas que ganhavam dinheiro simplesmente por possuírem terras gastavam apenas uma porção minúscula de seu tempo preocupados com exigências financeiras. De acordo com Randolph Trumbach, professor de história na Baruch College, os aristocratas ingleses do século XVIII passavam seus dias visitando amigos, comendo refeições elaboradas, sediando eventos, caçando, escrevendo cartas, pescando e indo à igreja. Eles também passavam um bom tempo participando da política, sem serem pagos. Seus filhos aprendiam a dançar, tocar instrumentos, falar outras línguas e ler latim. Nobres russos frequentemente se tornavam intelectuais, escritores e artistas. “Como um aristocrata do século XVII disse, ‘nos sentamos para comer e nos levantamos para brincar, porque o que é um cavalheiro sem seu prazer?”, diz Trumbach.
É difícil pensar que um mundo sem trabalho seria abundante o bastante para prover a todos tais estilos de vida generosos. Mas Gray insiste que injetar qualquer quantidade adicional de brincadeira nas vidas das pessoas seria bom, porque, ao contrário do que dizia aquele aristocrata do século XVII, a brincadeira é mais do que puro prazer. Através da brincadeira, diz Gray, as crianças (assim como os adultos) aprendem a criar estratégias, formar novas conexões mentais, expressar a criatividade, cooperar, superar o narcisismo, e conviver bem com outras pessoas. “Mamíferos machos tipicamente têm dificuldade em viver muito perto uns dos outros”, ele diz, e brincar promove a harmonia, o que pode explicar por que isso pôde se tornar tão central às sociedades de caçadores-coletores. Mesmo que a maioria dos adultos de hoje tenha esquecido como brincar, Gray não acredita que é uma habilidade irrecuperável: não é incomum, ele diz, que avôs re-aprendam o conceito de brincadeira depois de passar algum tempo com jovens netos.
Quando as pessoas refletem sobre a natureza de um mundo sem trabalho, elas geralmente transpõem premissas atuais sobre o trabalho e o lazer para um futuro em que elas podem não mais fazer sentido; se a automação acabar tornando uma boa parte do trabalho humano desnecessária, a sociedade pode existir segundo termos completamente diferentes das sociedades de hoje.
Então com o que os Estados Unidos sem trabalho poderia se parecer? Gray tem algumas ideias. A escola, por exemplo, seria muito diferente. “Eu penso que nosso sistema de escolarização cairia por terra”, afirma Gray. “O propósito primário do sistema educacional é ensinar as pessoas a trabalhar. Eu não acho que as pessoas iriam querer fazer nossas crianças passarem pelo que fazemos elas passarem agora”. Em vez disso, Gray sugere que os professores poderiam construir aulas com base no que as crianças mais têm curiosidade. Ou, talvez, a escolarização formal desaparecesse completamente.
Trumbach questiona se a escolarização estaria mais relacionada a ensinar crianças a serem líderes, em vez de trabalhadores, através de disciplinas como filosofia e retórica. Ele também pensa que as pessoas podem participar mais da vida política e pública, como os aristocratas de antigamente. “Se um maior número de pessoas estivesse usando seus tempos livres para governar o país, isso lhes daria um sentimento de propósito na vida”, diz Trumbach.
A vida social poderia ser bastante diferente também. Desde a revolução industrial mães, pais e crianças geralmente passam seus dias separados uns dos outros. Num mundo sem trabalho, pessoas de diferentes idades podem se reencontrar. “Ficaríamos muito menos isolados uns dos outros”, imagina Gray, talvez um pouco otimista demais. “Quando uma mãe está tendo um bebê, todos na vizinhança iriam querer ajudar aquela mãe”. Pesquisadores descobriram que ter relacionamentos próximos é o elemento determinante mais importante para a felicidade, e as conexões sociais que um mundo sem trabalho possibilitaria poderiam deslocar a falta de propósito que muitos futuristas preveem.
Em geral, sem trabalho, Gray pensa que provavelmente as pessoas seguiriam suas paixões, se envolveriam com as artes, e visitariam amigos. Talvez o lazer deixaria de estar relacionado a relaxar depois de um longo período de trabalho duro, e em vez disso se tornaria algo mais variado e colorido. “Não teríamos que ser auto-centrados como achamos que temos que ser hoje”, ele diz. “Eu acredito que nos tornaríamos mais humanos”.
Uma tradução deste post, descoberto no ótimo blog Fuck Yeah Character Development. A última parte foi retirada por falar principalmente de regras tipográficas da língua inglesa.
Quase não existem histórias em que o autor não conta nada (telling). E não tem problema: contar coisas é uma técnica bastante útil contanto que fique confinada a seu lugar. De modo geral, você vai querer dar prioridade a contar coisas, em vez de mostrá-las, quando:
Você geralmente vai querer dar prioridade a mostrar coisas (showing) quando:
Uma vez que você tenha trabalhado em revisões maiores de um texto, geralmente depois de vários rascunhos (lembre-se que o livro geralmente fica ruim antes de ficar bom!), você pode se focar em uma edição mais minuciosa. Isso envolve garantir que cada frase do livro seja tão forte quanto possível:
Coisas para observar:
Uma tradução deste artigo, além de alguns comentários que achei relevantes.
Eu posso socar nazistas?
Não sei. Você pode?
Eu tenho a capacidade física para fazê-lo, sim.
Então você deveria.
Eu tenho permissão para tal?
A resposta para isso também é sim.
Minha mãe me disse que a violência nunca é a resposta.
Minha mãe também disse que eu sou lindo; você não pode sempre ouvir a sua mãe.
O que aconteceu com “deixar o outro atacar primeiro”?
Nazistas não atacam primeiro com socos. Nazistas queimam o primeiro parlamento.
A esquerda não deveria ser composta por pessoas tolerantes?
Deveria ser composta por pessoas inteligentes, também, mas ela continua caindo nessa merda de “eu achei que vocês eram tolerantes”.
E o diálogo?
Diálogo é para pessoas razoáveis agindo em boa fé. Diálogo é entre duas posições aceitáveis. “Precisamos aumentar os impostos” contra “precisamos baixar os impostos” é algo que pode ser dialogado. “Precisamos aumentar os impostos” contra “Precisamos queimar os judeus em fornos” justifica uma surra.
Mas isso não é se rebaixar ao nível deles?
Isso depende. Depois de socar um nazista, você adota os princípios do nazismo?
Não.
Então você é melhor que um nazista.
Mas isso não dá razão para o inimigo?
O inimigo nesse caso é um bando de mentirosos filhos da puta que retorcerão qualquer coisa que você disser até que vire um balão em forma de suástica; se você não disser nada, vão simplesmente inventar alguma coisa. Mais vale socar um nazista.
E o que aconteceu com paz, amor e compreensão?
Ótimos objetivos, e uma vez que nos livremos dos nazistas podemos trabalhar neles. Todos os três são impossíveis quando há nazistas por perto.
Quando você deveria socar um nazista?
Sempre que tiver a chance. De preferência quando não estão olhando.
E se eles forem menores que você?
Acerte-os com o seu punho.
E se forem maiores?
Acerte-os com um taco de beisebol.
Isso não é uma ladeira escorregadia? Quando menos se espera, vamos estar socando todo mundo com quem discordamos?
Depois que derrotamos os nazistas na Segunda Guerra Mundial, continuamos atirando nas pessoas ou as tropas voltaram para casa e começaram a fazer bebês?
A segunda opção.
Pronto. O argumento da ladeira escorregadia é besteira em nove a cada dez vezes. Seres humanos são bons com ladeiras escorregadias: nós construímos escadas.
E se você achar que está socando um nazista, mas só está socando um branco com um cabelo idiota?
Corra.
O que você deveria fazer se socar um nazista?
Você deveria correr, também. Não me leve a mal: socar nazistas ainda é ilegal. Estamos discutindo moralidade.
Mas eu não quero socar ninguém.
Então mexa esse traseiro, senhor, e dê ajuda às pessoas nas linhas de frente do combate. Estamos todos juntos nisso. De novo.
Comentários
Jay escreveu:
Bom artigo, de fato eu ri.
Mas falando sério, eu me senti um pouco estranho quando ouvi sobre o que aconteceu pela primeira vez. Não me leve a mal, eu detesto nazistas, os velhos e os novos. Mas tendo levado um soco de surpresa, eu desprezo essa prática.
Para mim, se você vai acertar alguém em nome de um princípio, então faça com que o soco seja justo.
ThatJewishGirl respondeu a Jay:
Olha. Eu não vou esperar por literalmente um hematoma na minha cara para colocar alguns nos meus punhos. Eu sou muito nervosa (e muito bonita) pra isso. Eles já pintaram suásticas no painel da HUC (Universidade Judaica), e ameaçaram JCCs (Centros Comunitários Judaicos) com bombas, e isso pra mim é o bastante para começar a distribuir porradas.
Margaret Woods também respondeu a Jay:
Porque os nazistas fizeram uma luta bem justa nos campos de concentração!
Michael J. Curtiss também respondeu a Jay:
Defina um “soco justo” quando seu alvo é uma porra de um nazista, por favor.
Jay respondeu a Michael J. Curtiss:
“Defina um soco justo”
No contexto de um soco de supetão, um soco justo é quando o alvo sabe que está numa luta.
Veja eu odeio esse tipo de soco com uma paixão que está lá bem perto de odiar nazistas. De alguma forma isso aconteceu enquanto eu esperava as placas de aço e os parafusos segurarem o meu rosto por dois meses.
Enquanto eu pesquisava no google como liquidificar comida pra que ela passasse por um canudo, encontrei muitos casos similares, em que desgraçados covardes atacavam vítimas desavisadas e fugiam correndo.
Eu já estive em uma marcha antinazista […]. De vez em quando, na multidão de manifestantes pacíficos, babacas irritantes provocavam a polícia, seguros no meio da multidão. Isso me ensinou uma lição valiosa.
Só porque alguém odeia um nazista, não faz com que não possam ser idiotas eles mesmos. Mantenham a classe, pessoal.
BarFa respondeu a este último comentário de Jay:
“Veja eu odeio esse tipo de soco com uma paixão que está lá bem perto de odiar nazistas.”
^Eu sinceramente espero que você esteja falando somente da sua resposta emocional, e não das suas opiniões? Eu posso totalmente entender a primeira, já que o que acontece com alguém tende a trazer à tona os sentimentos mais fortes. Mas se essa é a sua opinião moral, sobre a qual você pensou bastante, então você está indo longe demais.
Jay respondeu a BarFa:
É claro que esses são meus sentimentos e são tão incontroláveis quanto a chuva e o sol. E é o ato de socar pessoas e fugir correndo que eu vejo como problemático, não violência contra nazistas.
Em outro ramo dos comentários, Jeff Kerr escreveu:
Eu acho que esse post é um exagero – mesmo se você está em parte fazendo piada. Violência contra outros NÃO É ACEITÁVEL – a não ser que esteja lutando numa guerra ou se defendendo (ou defendendo outra pessoa).
Eu socaria um nazista (e faria muito pior) numa guerra ou em autodefesa, mas se você começa a socar as pessoas com cujas opiniões você não concorda (não importa quão cheias de ódio), você está comprometendo o valor que nos torna diferente dos nazistas.
Este post recebeu várias respostas. A primeira foi do próprio autor do post, que disse:
Você e pessoas como você são parte do problema.
Mick Magill também respondeu a Jeff Kerr:
É POR DEFINIÇÃO “defesa de outras pessoas” atacar agressiva e violentamente nazistas e seus simpatizantes assim que eles se identificarem.
Você não espera para se defender até que esteja pelado num chuveiro.
Citizen0 também respondeu a Jeff Kerr:
É, foda-se isso.
Nazistas não gritam slogans – eles berram suas INTENÇÕES.
A Primeira Emenda [da Constituição dos Estados Unidos] me protege quando você usa “Palavras de Luta”- provocou uma resposta violenta e foi recebido com violência? – isso é permitido e constitucional.
Ao dizer que se deveria fazer uma limpeza étnica – ele já está dizendo algo que vale levar uma na boca. Invocando os nazistas e o Reich? Na cidade em que heróis de guerra foram enterrados? Para o filho de um soldado e sobrinho-neto de um herói do Dia D?
Todo… Leia isso Jeff – TODO NAZISTA merece ser socado, merece uma resposta VIOLENTA. Ou rolamos de barriga para cima e damos boas vindas a um novo Reich.
DE NOVO. JAMAIS.
Marco também respondeu a Jeff Kerr:
Eu discordo. Os ideais deles são moralmente terríveis e eles deveriam ser punidos por fazer a escolha de segui-los.
Pupienos Maximus também respondeu a Jeff Kerr:
Você parece não ter percebido que nós já ESTAMOS em guerra com eles. É uma guerra que ELES começaram. Socar nazistas É se defender e defender os outros.
Nesse senso de superioridade moral arrogante você vai direto pros campos de concentração.
Ao autor do post, que comentou “você e pessoas como você são parte do problema”, um anônimo disse que “Não, nazistas são o problema”, ao que Nigel respondeu:
Sim, e socar nazistas é a única forma de impedir que se multipliquem até o ponto em que obtenham poder real.
Veja, paramos de socar nazistas há mais ou menos 10 anos, e agora eles estão no poder!
Se você os deixa ganhar poder através do discurso de ódio, e espera até que desfiram o primeiro ataque, você vai basicamente esperar até que eles aprovem uma lei que torna ilegal você, o seu grupo ou outros grupos, e usem o Estado para destruir você ou quem quer que seja, e quando chegar nesse ponto, dar socos não vai ser suficiente. Se em seu “primeiro” ato violento mandarem uma equipe da SWAT levar você para um campo de concentração, é tarde demais para que 99,99% das pessoas resistam efetivamente.
Covardes que comandam multidões raramente vão dar socos. Mas eles vão matá-lo da mesma forma sem que você tenha um “momento de autodefesa”. A essa altura, se você for socar alguém, vai ser o policial, que vai estar “só fazendo seu trabalho”, o que não vai ajudar em nada exceto que os nazistas no poder terão como usá-lo como exemplo para justificar suas ações.
Isto está ficando longo, mas a questão é: dê socos em nazistas, ou qualquer um clamando pela matança dos outros com base somente em seus preconceitos de merda.
É um imperativo moral.
A Mick Magill, que terminou seu comentário com “você não espera para se defender até que esteja pelado num chuveiro”, DC Reade disse:
A extrema esquerda e a extrema direita fizeram suas pequenas danças nas ruas da República Alemã de Weimar ao longo de 14 anos.
Sem dúvida, de partida a extrema esquerda estava não apenas segura de estarem inviolavelmente corretos quanto à causa que defendiam, mas certos também da vitória. Tão certos que não tinham reservas quanto a “aumentar as contradições” com atos de violência de rua.
Quando a poeira baixou, o vencedor naquela luta foi a facção mais extrema da extrema direita. Talvez sua canção de luta mais famosa era um apelo para vingar uma de suas primeiras mortes, Horst Wessel.
Esse exemplo histórico não precisa ser reciclado neste país [EUA]. Pela esquerda, pela direita, por alguma facção indiferenciada de niilistas que “só querem ver o mundo pegar fogo”, por malucos teocratas cristãos ou por qualquer um. O planeta inteiro está em crise, mas os EUA em si ainda estão em posição de ter os recursos e a força de vontade nacional para mover o planeta e seus habitantes adiante. Americanos não devem reimaginar que as polarizações da Alemanha dos anos 1930 são um modelo produtivo, por qualquer ponto de vista que seja. É um modelo a se evitar. Esse é seu valor pedagógico.
Em resposta a DC Reade, Bridget pergunta “Como você crê que as pessoas deveriam lidar com nazistas hoje?”. Estimated Prophet responde a DC Reade:
Essa não é a República de Weimar. A República de Weimar foi um governo formado depois que o anterior foi desmontado após perder a maior guerra que qualquer um tenha visto. O governo anterior foi um estado hipermilitarizado que foi descrito como “um exército que tinha um Estado” 150 anos antes, tendo crescido em estatura e força desde então. O liberalismo – entendido como o sistema parlamentarista da república – foi-lhes imposto. Eu penso, certamente, que seria reducionista dizer que Hitler e a extrema direita ganharam simplesmente ou principalmente porque o nacionalismo autocrático militarizado era parte de uma “cultura alemã” ou coisa parecida, mas apesar disso deve ser notado que muitos na República de Weimar viveram a época de Bismarck e a Guerra Franco-prussiana e muitas pessoas influentes e poderosas a apoiavam e a desejavam.
Nos Estados Unidos temos nossas próprias instituições que, ainda que gravemente imperfeitas em muitos aspectos, estão longe pra caralho do Império Germânico. O tipo de fascismo e violência racial – esse homem literalmente, abertamente advocou pelo genocídio de pessoas negras – que Richard Spencer proclama não vai ser eleito. Nós provavelmente ganhamos o presidente mais à direita, mais nacionalista e mais autoritário que vamos ter no futuro próximo. A violência racial de Spencer está acontecendo, na minha opinião, num nível institucional a partir de coisas como encarceramento em massa, a guerra às drogas, e a corrupção e/ou violência da política e da polícia, mas enquanto lutamos essa luta não podemos deixá-la ocorrer nas ruas. Nós já falhamos nisso em certo sentido – veja quantos motoristas brancos (ou policiais, mas ei) já atiraram em adolescentes negros que estavam tocando suas músicas muito alto em estacionamentos. Deve NO MÍNIMO se tornar um fato conhecido que se alguém como Richard Spencer abertamente declarar a intenção de fazer coisas como essas se ele puder se safar (o que muitos já fizeram), ele não vai se sentir seguro em público. Porque se Richard Spencer se sente seguro em público depois de abertamente declarar seu desejo e sua intenção de assassinar alguém por causa de sua raça, mesmo que não seja um alvo específico, isso significa que ninguém mais que puder ser um alvo estará mais seguro, o que é a maior vitória deles.
Isso não é uma guerra de rua em Weimar. Feliz quanto ele possa estar com o resultado da eleição, Richard Spencer não está na Casa Branca ou no Congresso. A ala política deles não age por eles de fato, não é ideologicamente motivada como eles; age em interesse próprio. O poder político de Richard Spencer cresce das ruas. Vai crescer do fato de ele poder dar um discursinho legal na universidade local. Esse tipo de coisa vai encorajar grupos de afinidade nas universidades. E por aí vai. Parcialmente porque nossas instituições não ensinaram as pessoas a pensar de formas adjacentes à ideologia deles, eles não têm o suporte de massa necessário para sustentar uma guerra de rua, ainda. Não há veteranos de guerra Prussianos que sentem falta de Bismarck aqui. Não há um Partido Nazista ganhando assentos num parlamento de voto proporcional. O eleitor médio de Trump não lê Breitbart [portal nazista] – mas ele pode, se Breitbart puder ser o anfitrião de um festival de música numa praça pública. Isso tudo para dizer que o que está acontecendo não é uma guerra de rua com camisas marrons organizadas, é a garantia de que nazistas babacas e mimados com mestrado em filosofia não possam falar merda com impunidade. Richard Spencer simplesmente não tem o suporte institucional ou popular para ser comparado com os agentes da extrema direita na República de Weimar, mesmo antes da ascensão de Hitler.
Além do quê, mais do que tudo, o que os fracassos da esquerda da República de Weimar significam para mim é que é imperativo ganhar. Não há nada na natureza da extrema direita que os torna melhores em guerras de rua – a esquerda poderia ter ganhado na Alemanha, se tivesse sido melhor. No entanto – para insistir nisso – Soldados Imperiais Alemães conservadores mais velhos, treinados e militarizados e seus filhos sendo tantos e tão poderosos na República tiveram um papel importante na hora de desbalancear a equação para a direita. E nós não temos isso aqui.
Chris postou basicamente um link dizendo “bem, eu discordo”. O autor do post respondeu:
Os seus ideais vão mantê-lo bem quentinho dentro dos trens, e suas crenças poderão ser trocadas por migalhas de pão quando você chegar nos campos de concentração.
DC Reade por sua vez respondeu a isso:
Há muito entre vigilância e paranoia e isso não precisa ser suprimido.
Richard Spencer não estava advogando que os judeus desse país fossem reunidos e enviados a campos de concentração no momento em que foi atacado. Ele estava fazendo uma exposição tola sobre o que ele imaginava ser o valor midiático de co-optar um sapo de desenho animado para o propósito de propaganda. Isso não é ameaçador; é patético.
Agora Richard Spencer tem um perfil maior na mídia do que ele teria tido de outra forma, com a vantagem do que eu creio ser uma razão objetivamente razoável para ganhar simpatia das pessoas. Para todos os propósitos práticos, o cara que o socou não poderia ter feito um favor maior mesmo se tivesse estado a favor dele. Sobre o que medito, sem tirar nenhuma conclusão. No interesse da vigilância, não da paranoia.
O autor do post original retrucou:
Ah, então um nazista só é um nazista enquanto estiver ativamente falando sobre genocídio?
Nazistas não tem nenhuma razão para ganhar simpatia de ninguém. Eles são nazistas, caralho. Vários membros da minha família teriam concordado comigo nisso. Se não fosse, sabe, pela merda dos nazistas.
O’Shady também respondeu a DC Reade:
Richard Spencer já tinha uma plataforma enorme na subcultura neonazista – ele é o cara que refez a “marca” deles sob o termo “alt-right” [direita alternativa]. Ele ativamente e notoriamente esposou os aparentes valores da limpeza étnica (particularmente contra pessoas negras) e incitou violência com suas palavras em ampla escala.
Agora ele é a parte engraçada de um meme. Isso é bom.
Cthulhu também respondeu a DC Reade:
Spencer já fez e disse o suficiente para merecer uma longa fila de pessoas esperando sua vez de bater nele. Só porque ele não estava defendendo a morte de inocentes naquele momento não significa que não o tenha feito antes.
A questão é que ele é um nazistinha nojento que merece levar uma porrada na boca. E, mais importante, ele agora sabe que quanto mais ele cospe sua besteira nazista em público, maior a chance de que ele vai levar uma porrada na boca cada vez que mostra seu rosto em público. Se no fim das contas ele acabar com medo demais de sair na rua, eu estou bem com isso. Em algum momento, espera-se que ele aprenda a lição: “Caramba! As pessoas REALMENTE não concordam com essa coisa de ser um nazista de merda. Será que eu estava errado o tempo todo?” (O que, admito, requer um nível de introspecção da qual não creio que ele seja capaz). Se ele aprender que ser um nazista de merda não será tolerado, e ele cala a boca, fico bem com isso também.
Housellama disse algo interessante também (um comentário novo, sem ser uma resposta a qualquer um acima):
Para aqueles que querem uma alternativa que é violenta mas não ilegal, podem tentar isso: http://www.dailydot.com/layer8/shia-labeouf-art-livestram-white-supremacist/?fb=dd
Nesse momento do jogo, se trata de remover a mensagem deles. Remover a habilidade deles de enviar tal mensagem (no caso do Shia LaBeouf, aumentando a razão de ruído em relação ao sinal), a maioria deles se torna inofensiva. Outro exemplo é bomba de bosta, embora essas sejam menos [juridicamente] legais.
Dar socos pode auxiliar na narrativa deles e tornar a mensagem deles mais forte. Gritar contra eles remove a habilidade deles de enviar suas mensagens, ou os provoca a atacar primeiro, e nesse caso, dê socos à vontade.
Tradução de “Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit”, texto por David Graeber, publicado no The Baffler em 2012.

Um problema secreto flutua sobre nós, um sentimento de decepção, de uma promessa quebrada que nos foi feita quando éramos crianças, sobre o que o mundo deveria ser. Estou me referindo não às falsidades de sempre que se diz às crianças (sobre como o mundo é justo, ou como aqueles que se esforçam são recompensados), mas a uma promessa em particular a uma geração – feita àqueles que eram crianças nos anos 50, 60, 70 ou 80 – uma que nunca foi bem articulada como promessa mas antes como um conjunto de presunções sobre como o nosso mundo adulto se pareceria. E uma vez que nunca foi bem uma promessa, agora que ela não virou verdade, ficamos confusos: indignados, mas ao mesmo tempo, constrangidos com a nossa própria imaginação, envergonhados que pudemos ser tão bobos de acreditar nos mais velhos para começo de conversa.
Onde, resumidamente, estão os carros voadores? Onde estão os campos de força, os raios tratores, o teletransporte, os trenós anti-gravidade, os tricorders, as pílulas da imortalidade, as colônias em Marte, e todas as outras maravilhas tecnológicas que qualquer criança que cresceu a partir da metade do século XX presumiu que existiriam a essa altura? Até mesmo aquelas invenções que pareciam prontas para surgir – clonagem ou criogenia – acabaram traindo suas ousadas promessas. O que aconteceu com essas coisas?
Somos constantemente informados sobre as maravilhas dos computadores, como se isso fosse algum tipo de compensação imprevista, mas, na verdade, não conseguimos nem que os computadores progredissem tanto quanto esperávamos que progredissem hoje em dia. Não temos computadores com os quais podemos ter uma conversa interessante, ou robôs que possam passear com os nossos cachorros ou que levem nossas roupas à lavanderia.
Como alguém que tinha oito anos de idade na época do pouso na lua, lembro de calcular que eu teria trinta e nove anos no mágico ano 2000 e de me perguntar como o mundo seria. Se eu esperava que estaria vivendo num mundo incrível? É claro. Todo mundo esperava. Se eu me sinto decepcionado agora? Parecia improvável que eu viveria para ver tudo que eu lia nas ficções científicas, mas nunca me ocorreu que eu não veria nenhuma delas. No virar do milênio, eu estava esperando uma leva de reflexões sobre o porquê de termos adivinhado tão erroneamente o futuro da tecnologia. Em vez disso, todas as vozes respeitáveis – tanto à esquerda quanto à direita – tiveram como ponto de partida a premissa de que vivemos em uma nova utopia tecnológica sem precedentes de um tipo ou de outro.
A forma mais comum de lidar com esse desconforto de que as coisas podem não ser assim é deixar isso de lado, insistindo que todo o progresso que pôde acontecer, aconteceu, tratando todo o resto como bobagem. “Oh, você quer dizer as coisas que os Jetsons tinham?”, perguntam-me – como se dissessem, mas isso era pra crianças! Certamente, como adultos, entendemos que os Jetsons eram uma visão tão precisa do futuro quanto os Flintstones eram da idade da pedra.
Mas nos anos 70 e 80, na verdade, fontes sérias como a National Geographic e o Smithsonian estavam dizendo às crianças que estações espaciais visitáveis por todos e expedições à Marte eram iminentes. Criadores de filmes de ficção científica costumavam usar datas concretas para suas fantasias futuristas, geralmente não mais adiante que uma geração à frente. Em 1968, Stanley Kubrick achou que uma audiência de cinema veria como perfeitamente natural que apenas 33 anos mais tarde, em 2001, teríamos viagens comerciais à lua, estações espaciais parecidas com cidades, e computadores com personalidades humanas mantendo astronautas em animação suspensa numa viagem à Júpiter. Videochamadas foram praticamente a única nova tecnologia daquele filme em particular que apareceu – e já era tecnicamente possível quando o filme estava em exibição. 2001 pode ser visto como uma anomalia, mas e quanto a Star Trek? O mito de Star Trek também foi criado nos anos 60, mas a série continuava sendo revivida, fazendo o público que assistiu a Star Trek Voyager em, digamos, 2005, pergunta-se o que fazer do fato de que, pela lógica da série, o mundo deveria estar se recuperando de uma luta contra o domínio de superhumanos geneticamente projetados nas Guerras Eugênicas dos anos 90.
Em 1989, quando os criadores de De Volta para o Futuro II puseram carros voadores e skates anti-gravidade nas mãos de adolescentes comuns no ano 2015, não ficou claro se isso era uma previsão ou uma piada.
A tática geral da ficção científica é ser vago em relação às datas, para fazer com que “o futuro” seja uma zona de pura fantasia, não muito diferente de Nárnia ou da Terra Média, ou como em Star Wars, “há muito tempo atrás em uma galáxia muito, muito distante”. Como consequência, nossa ficção científica do futuro não é nem um pouco do futuro, sendo mais uma dimensão alternativa, um Outro Lugar tecnológico num tempo onírico, existindo em dias por vir da mesma forma que elfos e matadores de dragões existiram no passado – uma tela vazia para o deslocamento de dramas morais e fantasias míticas nos becos sem saída do prazer de consumo.
 Pode a sensibilidade cultural que veio a ser entendida como pós-modernismo ser vista como uma meditação prolongada sobre as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me veio enquanto eu assistia a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era péssimo, mas eu não pude deixar de me impressionar com a qualidade dos efeitos especiais. Ao me lembrar dos efeitos especiais típicos dos filmes sci-fi dos anos 50, eu ficava pensando em quão impressionada uma plateia dessa época ficaria se eles soubessem o que conseguimos fazer agora – e aí percebi que “na verdade, não. Eles não ficariam nada impressionados, não é mesmo? Eles achavam que nós estaríamos fazendo esse tipo de coisa agora. Não só pensando em maneiras mais sofisticadas de simular esse tipo de coisa”.
Pode a sensibilidade cultural que veio a ser entendida como pós-modernismo ser vista como uma meditação prolongada sobre as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me veio enquanto eu assistia a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era péssimo, mas eu não pude deixar de me impressionar com a qualidade dos efeitos especiais. Ao me lembrar dos efeitos especiais típicos dos filmes sci-fi dos anos 50, eu ficava pensando em quão impressionada uma plateia dessa época ficaria se eles soubessem o que conseguimos fazer agora – e aí percebi que “na verdade, não. Eles não ficariam nada impressionados, não é mesmo? Eles achavam que nós estaríamos fazendo esse tipo de coisa agora. Não só pensando em maneiras mais sofisticadas de simular esse tipo de coisa”.
Essa palavra – simular – é chave. As tecnologias que têm avançado desde os anos 70 são principalmente tecnologias médicas ou tecnologias da informação – principalmente tecnologias de simulação. Elas são tecnologias do que Jean Baudrillard e Umberto Eco chamaram “hiperreal”, a habilidade de fazer imitações que são mais realistas que os originais. A sensibilidade pós-moderna, o sentimento de que entramos de alguma maneira em um período histórico absolutamente novo em que entendemos que não há nada de novo; que as grandes narrativas históricas de progresso e libertação não tinham sentido algum; que tudo agora era uma simulação, uma repetição irônica, fragmentação e montagem – tudo isso faz sentido em um ambiente tecnológico em que as únicas descobertas foram aquelas que tornaram mais fácil criar, transferir e rearranjar projeções de coisas que ou já existiam ou, acabamos percebendo, jamais existiriam. Claro, se estivéssemos tirando férias em domos geodésicos em Marte ou carregando usinas de energia nuclear de bolso ou aparelhos de telecinese ninguém estaria falando desse jeito. O momento pós-moderno foi uma forma desesperada de transformar o que só poderia de outra forma ser sentido como uma decepção amarga em algo animador, histórico e inédito.
Em suas primeiras formulações, que em grande parte vieram da tradição marxista, muito desse pano de fundo tecnológico foi reconhecido. A obra “Pós-modernismo, ou a lógica cultural do capitalismo tardio” (tradução livre), de Fredric Jameson, propôs o termo “pós-modernismo” para se referir à lógica cultural apropriada para uma nova fase tecnológica do capitalismo, que havia sido prevista pelo economista marxista Ernest Mandel desde 1972. Mandel tinha argumentado que a humanidade estava no limiar de uma “terceira revolução tecnológica”, tão profunda quanto as revoluções da agricultura e da indústria, em que computadores, robôs, novas fontes de energia e novas tecnologias de informação substituiriam o trabalho industrial – o “fim do trabalho” como isso logo seria chamado – reduzindo-nos a técnicos e designers de computadores, criando as ideias loucas que fábricas cibernéticas produziriam.
Argumentos sobre o fim do trabalho foram populares no final dos anos 70 e começo dos anos 80 à medida que pensadores ponderavam o que aconteceria à tradicional luta de classes se a classe trabalhadora não existisse (a resposta: uma política baseada em identidades). Jameson se considerava um explorador das formas de consciência e das sensibilidades históricas que provavelmente surgiriam nessa nova era.
O que aconteceu, em vez disso, é que o maior alcance das tecnologias de informação e novas formas de organizar o transporte – a “containerização”, por exemplo – permitiu que esses mesmos trabalhos industriais fossem terceirizados para a Ásia, América Latina, e outros países onde a disponibilidade de trabalho barato permitiu que os fabricantes empregassem técnicas de linha de produção muito menos tecnologicamente sofisticadas do que eles seriam obrigados a fazer em seus países natais. Da perspectiva daqueles vivendo na Europa, América do Norte e Japão, os resultados parecem ter sido bem como o previsto. As indústrias de chaminés e fumaça desapareceram mesmo; os trabalhos vieram a ser divididos entre o estrato mais baixo do setor de serviço e um estrato mais alto de pessoas sentadas em bolhas antissépticas brincando com computadores. Mas abaixo disso tudo fica uma consciência irritante de que a civilização pós-trabalho é uma gigantesca fraude. Nossos tênis de alta tecnologia cuidadosamente projetados não foram produzidos por ciborgues inteligentes ou nanotecnologia molecular autorreplicante; eles foram feitos com o equivalente às antigas máquinas de costura Singer, pelas filhas de fazendeiros mexicanos ou indonésios que, por causa da OMC ou dos acordos de comércio apoiados pela NAFTA, foram expulsos de suas terras ancestrais. É uma consciência pesada essa por detrás da sensibilidade pós-moderna e sua celebração de um jogo sem fim de imagens e superfícies.
 Por que a explosão de crescimento tecnológico que todos estavam esperando – as bases lunares, as fábricas de robôs – deixou de acontecer? Há duas possibilidades. Ou nossas expectativas sobre o ritmo da mudança tecnológica não eram realistas (e nesse caso, precisamos saber por que tantas pessoas inteligentes acreditavam que elas eram) ou nossas expectativas eram realistas (e nesse caso, precisamos saber o que aconteceu para tirar dos trilhos tantas ideias e prospectos).
Por que a explosão de crescimento tecnológico que todos estavam esperando – as bases lunares, as fábricas de robôs – deixou de acontecer? Há duas possibilidades. Ou nossas expectativas sobre o ritmo da mudança tecnológica não eram realistas (e nesse caso, precisamos saber por que tantas pessoas inteligentes acreditavam que elas eram) ou nossas expectativas eram realistas (e nesse caso, precisamos saber o que aconteceu para tirar dos trilhos tantas ideias e prospectos).
A maioria dos analistas sociais escolhem a primeira explicação e traçam a origem do problema à corrida espacial da Guerra Fria. Por que, os analistas se perguntam, ambos os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram tão obcecados com a ideia da viagem espacial tripulada? Isso nunca foi um jeito eficiente de fazer pesquisa científica. E encorajou ideias nada realistas sobre o futuro da humanidade.
Poderia a resposta ser que os dois países foram, um século antes, sociedades de pioneiros, uma expandindo-se para além da fronteira oeste, a outra ao longo da Sibéria? Não compartilhavam, eles, um comprometimento com um mito do futuro expansivo e sem limites, da colonização humana de vastos espaços vazios, que ajudou a convencer os líderes desses superpoderes de que eles haviam entrado em uma “era espacial” na qual competiam pelo controle do futuro em si mesmo? Todo tipo de mito estava em jogo aqui, sem dúvida, mas isso não prova nada sobre o realismo do projeto.
Algumas daquelas fantasias de ficção científica (a essa altura já não podemos saber quais) poderiam ter vindo a existir. Para gerações mais novas, muitas fantasias como aquelas tinham se tornado realidade. Aqueles que cresceram na virada do século lendo Júlio Verne ou H. G. Wells imaginaram o mundo de 1960 com máquinas voadoras, foguetes, submarinos, rádio e televisão – e foi exatamente isso que eles viram. Se não era irrealista em 1900 sonhar com humanos viajando à lua, então por que era irrealista nos anos 60 sonhar com mochilas a jato e lavanderias-robô?
Na verdade, enquanto esses sonhos estavam sendo esboçados, a base material para a conquista deles estava começando a ser enfraquecida. Há razão para acreditar que mesmo nos anos 50 e 60, o ritmo da inovação tecnológica estava diminuindo em relação ao passo ligeiro da primeira metade do século. Houve uma última enchente de novas tecnologias em rápida sucessão nos anos 50 quando surgiram os fornos de microondas (1954), a pílula (1957) e os lasers (1958). Mas desde então, avanços tecnológicos foram maneiras inteligentes de combinar tecnologias que já existiam (como na corrida espacial) e novas maneiras de colocar tecnologias que já existiam nas prateleiras dos supermercados (o exemplo mais famoso é a televisão, inventada em 1926, mas produzida em massa apenas depois da guerra). Ainda assim, em parte porque a corrida espacial deu a todos a impressão de que avanços incríveis estavam acontecendo, a visão popular durante os anos 60 era que o ritmo da mudança tecnológica estava aumentando de formas amedrontadoras e descontroláveis.
O best seller de 1970 de Alvin Toffler, Choque do Futuro, argumentava que quase todos os problemas sociais dos anos 60 se iniciavam no ritmo crescente da transformação tecnológica. O surgimento infinito de descobertas científicas mudavam as bases da existência diária, e deixava as pessoas sem uma ideia clara do que uma vida normal seria. Considere a família, por exemplo; não só a pílula, mas a fertilização in vitro, os bebês de proveta e a doação de óvulos e espermatozoides estavam prestes a tornar a ideia de maternidade obsoleta.
Seres humanos não eram psicologicamente preparados para o ritmo de mudanças, Toffler escreveu. Ele cunhou um termo para o fenômeno: “impulsão aceleradora”. Ela começou com a Revolução Industrial, mas mais ou menos pelos anos 1850, seu efeito se tornou inequívoco. Não apenas tudo ao nosso redor estava mudando, mas a maior parte – conhecimento humano, contingente populacional, crescimento industrial, uso energético – estava mudando exponencialmente. A única solução, argumentava Toffler, era começar algum tipo de controle sobre o processo, como instituições que avaliariam tecnologias emergentes e seus efeitos possíveis, banindo assim tecnologias que seriam provavelmente muito socialmente disruptivas, guiando o desenvolvimento na direção na harmonia social.
Enquanto muitas das tendências históricas que Toffler descreve são precisas, o livro apareceu quando a maioria dos crescimentos exponenciais parou. Foi bem por volta de 1970 que o aumento no número de artigos científicos publicados no mundo – um número que tinha dobrado a cada quinze anos desde mais ou menos 1685 – começou a se nivelar. O mesmo valeu para livros e patentes.
O uso da palavra “aceleradora” foi particularmente infeliz. Pela maior parte da história humana, a maior velocidade com a qual as pessoas poderiam viajar esteve por volta de 40 km/h. Por volta de 1900 a velocidade máxima aumentou para 160 km/h, e pelos próximos setenta anos ela pareceu crescer exponencialmente. Na época em que Toffler estava escrevendo, em 1970, o recorde para maior velocidade com a qual qualquer humano havia viajado era mais ou menos 40.000 km/h, o que foi conseguido pela equipe do Apollo 10 em 1969, um ano antes. Em tal taxa de crescimento, deve ter parecido razoável presumir que era questão de décadas até estarmos explorando outros sistemas solares.
Desde 1970, nenhum novo aumento ocorreu. O recorde de maior velocidade continuou com a equipe do Apollo 10. É verdade que o Concorde, que voou pela primeira vez em 1969, conseguiu 2179 km/h. O Soviete Tupolev Tu-144, que voou primeiro, foi ainda mais rápido, com 2499 km/h. Mas essas velocidades não apenas não aumentaram; elas diminuíram desde que o Tupolev Tu-144 foi cancelado e o Concorde foi abandonado.
Nada disso interrompeu a carreira de Toffler. Ele continuou reciclando sua análise para inventar novos pronunciamentos espetaculares. Em 1980, ele produziu “A Terceira Onda”, seu argumento tirado da “terceira revolução tecnológica” do Ernest Mandel – exceto que enquanto Mandel pensava que essas mudanças seriam o fim do capitalismo, Toffler presumia que o capitalismo era eterno. Até 1990, Toffler se tornou o guru intelectual pessoal de Newt Gingrich, um congressista republicano que disse que seu texto de 1994, “Contract With America” (Contrato com a América, em tradução livre) foi parcialmente inspirado pela ideia de que os Estados Unidos precisavam sair de uma mentalidade antiquada, materialista e industrial para uma nova era de livre mercado e informação, uma civilização da Terceira Onda.
Há várias ironias nessa conexão. Uma das maiores conquistas de Toffler foi inspirar o governo a criar o OTA (Office of Technology Assessment), um escritório de avaliação tecnológica. Um dos primeiros atos de Gingrich ao ganhar o controle do Congresso em 1995 foi cancelar os fundos da OTA como um exemplo de gasto extravagante e inútil por parte do governo. Ainda assim, não há contradição aqui. A esas altura, Toffler há muito havia desistido de influenciar a política ao apelar para o público geral; ele estava ganhando a vida principalmente dando seminários para presidentes de empresas e think tanks corporativos. Suas ideias tinham sido privatizadas.
Gingrich gostava de chamar a si mesmo um “futurologista conservador”. Isso, também, pode parecer um oxímoro; mas, na verdade, o próprio conceito de futurologia de Toffler nunca foi progressista. O progresso sempre foi visto como um problema que precisava ser resolvido.
Toffler deve ser visto como uma versão peso-pena do teórico social do século XIX Auguste Comte, que acreditava estar no limiar de uma nova era – nesse caso, a era industrial – dirigida por um progresso inexorável da tecnologia, e que os cataclismas sociais de seu tempo eram causados por um desajuste do sistema social. A antiga ordem feudal desenvolveu a teologia católica, um jeito de pensar sobre o lugar do homem no cosmos que era perfeitamente adaptado ao sistema social de seu tempo, e também desenvolveu a estrutura institucional, a igreja, que distribuiu e fez valer tais ideias de uma maneira que pôde dar a todos um sentimento de significado e pertença. A era industrial desenvolveu seu próprio sistema de ideias – a ciência – mas os cientistas não tinham sido bem-sucedidos em criar nada parecido com a Igreja Católica. Comte concluiu que precisávamos desenvolver uma nova ciência, que ele chamou “sociologia”, e disse que os sociólogos deveriam fazer o papel de padres em uma nova Religião da Sociedade que deveria inspirar a todos com um amor por ordem, comunidade, disciplina do trabalho, e os valores da família. Toffler era menos ambicioso; seus futurólogos não deveriam fazer o papel de padres.
Gingrich tinha um segundo guru, um teólogo capitalista chamado George Gilder, e Gilder, como o Toffler, era obcecado com a tecnologia e a mudança social. Pode parecer estranho, mas Gilder era mais otimista. Adotando uma versão radical do argumento de Mandel sobre a Terceira Onda, ele sustentava o que estávamos vendo com a ascensão dos computadores era uma “derrubada da matéria”. A velha e materialista Sociedade Industrial, onde o valor vinha do trabalho físico, abria caminho para uma era da informação em que o valor emerge diretamente das mentes dos empreendedores, assim como o mundo havia originalmente aparecido ex nihilo da mente de Deus, e assim como o dinheiro, em uma economia genuinamente de oferta, emergia ex nihilo da Reserva Federal e fluía para as mãos de capitalistas criadores de valor. Políticas econômicas de incentivo à oferta, Gilder concluiu, garantiria que o investimento continuaria a se afastar dos elefantes brancos do velho governo, como o programa espacial, em direção a tecnologias médicas e de informação mais produtivas.
Mas se houve um afastamento consciente, ou semiconsciente, do investimento em pesquisa que pudesse levar a melhores foguetes e robôs em direção àquela que levaria a coisas como impressoras e tomografias computadorizadas, ela começou bem antes do “Choque do Futuro” de Toffler (1970) e do “Wealth and Poverty” de Gilder (“Riqueza e Pobreza”, em tradução livre; 1981). O que o sucesso deles mostra é que os problemas que eles levantaram – que os padrões de então de desenvolvimento tecnológico levariam ao caos social, e que precisamos guiar esse crescimento em direções que não desafiassem as estruturas de autoridade existentes – ecoavam nos corredores do poder. Estadistas e capitães da indústria já estavam pensando nessas questões por algum tempo.
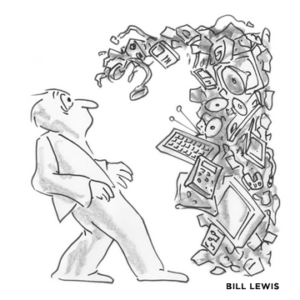 O capitalismo industrial estimulou uma taxa extremamente rápida de avanço científico e inovação tecnológica – uma sem paralelo na história humana até então. Mesmo os maiores detratores do capitalismo, Karl Marx e Friedrich Engels, celebraram seu destravamento das “forças produtivas”. Marx e Engels também acreditavam que a necessidade contínua do capitalismo de revolucionar os meios de produção industrial seria sua perdição. Marx argumentou que, por certas razões técnicas, o valor – e portanto o lucro – só pode ser extraído do trabalho humano. A competição força os donos das fábricas a mecanizar a produção, para reduzir custos de trabalho, mas enquanto isso serve ao interesse imediato da empresa, o efeito da mecanização é fazer decrescer o lucro geral.
O capitalismo industrial estimulou uma taxa extremamente rápida de avanço científico e inovação tecnológica – uma sem paralelo na história humana até então. Mesmo os maiores detratores do capitalismo, Karl Marx e Friedrich Engels, celebraram seu destravamento das “forças produtivas”. Marx e Engels também acreditavam que a necessidade contínua do capitalismo de revolucionar os meios de produção industrial seria sua perdição. Marx argumentou que, por certas razões técnicas, o valor – e portanto o lucro – só pode ser extraído do trabalho humano. A competição força os donos das fábricas a mecanizar a produção, para reduzir custos de trabalho, mas enquanto isso serve ao interesse imediato da empresa, o efeito da mecanização é fazer decrescer o lucro geral.
Por 150 anos, os economistas debateram se tudo isso era verdade. Mas se for verdade, faz sentido a decisão dos industrialistas de não gastar dinheiro de pesquisa com as fábricas de robôs que todos imaginavam nos anos 60, e em vez disso transferir o processo produtivo para locais de baixa tecnologia e trabalho intensivo na China ou no Sul Global.
E, como eu notei, há uma razão para acreditar que o ritmo da inovação tecnológica no processo produtivo – as fábricas em si mesmas – começou a cair nos anos 50 e 60, mas os efeitos colaterais da rivalidade dos Estados Unidos com a União Soviética fizeram parecer que a inovação estava acelerando. Havia a incrível corrida espacial, junto aos esforços frenéticos das indústrias americanas para aplicar tecnologias que já existiam a produtos comerciais, para criar um senso otimista de prosperidade florescente e progresso garantido que iria minar o apelo da luta de classes.
Essas iniciativas foram reações às empreitadas da União Soviética. Mas essa parte da história os Americanos dificilmente se lembram, porque no final da Guerra Fria a imagem que se fazia da União Soviética mudou de rival ousado e amedrontador para maluco patético – o exemplo de uma sociedade que não poderia funcionar. Lá nos anos 50, de fato, muitos pensadores americanos suspeitavam que o sistema soviético era melhor. Certamente, eles consideravam que nos anos 30, enquanto os Estados Unidos estavam no lamaçal da depressão econômica, a União Soviética tinha mantido níveis de crescimento econômico quase sem precedentes, de 10 a 12 porcento ao ano – uma conquista rapidamente seguida da produção de exércitos de tanques que derrotaram a Alemanha nazista, do lançamento da Sputnik em 1957, e então da primeira nave espacial tripulada, em Vostok, em 1961.
Dizem com frequência que o pouso na lua foi a maior conquista histórica do comunismo soviético. Certamente os Estados Unidos nunca teriam contemplado um tal feito se não fosse pelas ambições do Politburo. Estamos acostumados a pensar no Politburo como um grupo de burocratas cinzas sem imaginação, mas eles eram burocratas que ousaram sonhar coisas espantosas. A revolução mundial era só a primeira. É verdade também que a maioria dos sonhos – mudar o curso de grandes rios, esse tipo de coisa – acabou sendo ou socialmente ou ecologicamente desastrosa ou, como o Palácio dos Sovietes de Joseph Stalin, que tinha cem andares, ou uma estátua de Vladimir Lenin que equivalia a um prédio de vinte andares, nunca saiu do papel.
Depois do sucesso inicial do programa espacial soviético, poucos desses esquemas foram realizados, mas a liderança nunca deixou de pensar em coisas novas. Até mesmo nos anos 80, quando os Estados Unidos tentava seu último projeto grandioso (Star Wars), os soviéticos queriam transformar o mundo através dos usos criativos da tecnologia. Poucos fora da Rússia se lembram da maioria desses projetos, mas muitos recursos foram devotados a eles. Vale a pena notar que, diferentemente do Star Wars, que foi projetado para naufragar a União Soviética, a maioria deles não era essencialmente militar; como, por exemplo, a tentativa de acabar com a fome mundial ao colher de lagos e oceanos uma bateria comestível chamada spirulina, ou resolver o problema da energia no mundo lançando em órbita centenas de painéis solares gigantes, transferindo a energia de volta para a Terra.
A vitória na corrida espacial significou que, depois de 1968, os políticos americanos não levaram mais a competição a sério. O resultado foi que a mitologia da fronteira final foi mantida, mesmo que a direção da pesquisa e do desenvolvimento se afastou de qualquer coisa que pudesse levar à criação de bases em Marte e fábricas de robôs. A explicação padrão é que isso tudo resultava do triunfo do mercado. O programa Apollo foi um projeto de um “Governo Grande”, inspirado pelos soviéticos no sentido de que exigia um esforço de coordenação nacional por parte das burocracias governamentais. Assim que a ameaça soviética foi colocada de lado, contudo, o capitalismo estava livre para reverter as linhas do desenvolvimento tecnológico mais de acordo com seus imperativos normais e descentralizados de livre mercado – como a pesquisa privada em produtos vendáveis como computadores pessoais. Essa foi a linha que homens como Toffler e Gilder tomaram no fim dos aos 70 e começo dos 80.
Na verdade, os Estados Unidos nunca abandonaram esquemas gigantes, controlados pelo governo, de desenvolvimento tecnológico. Em geral, eles apenas foram transferidos para a pesquisa militar – e não apenas para esquemas em escala soviética como o Star Wars, mas para projetos de armas, pesquisa em tecnologias de comunicação e vigilância, e outros assuntos relacionados à segurança. Em algum nível isso sempre foi verdade: os bilhões gastos com pesquisas em mísseis sempre foram muito maiores que as somas alocadas ao programa espacial. Ainda assim nos anos 70, mesmo a mais simples pesquisa veio a ser conduzida seguindo prioridades militares. Uma razão pela qual não temos fábricas de robôs é porque quase 95% do financiamento de pesquisa em robótica foi canalizado através do Pentágono, que está mais interessado em criar drones não-tripulados que na automação de fábricas de papel.
Alguém poderia dizer que mesmo a mudança para a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de informação e medicina foi não tanto uma reorientação rumo aos imperativos de mercado dos consumidores, mas parte de um esforço geral de dar sequência à humilhação tecnológica da União Soviética com a vitória total da luta de classes global – vista simultaneamente como uma imposição de absoluta dominação militar dos Estados Unidos no planeta, e, dentro do país, a derrota absoluta dos movimentos sociais.
Isso porque as tecnologias que de fato surgiram se provaram propícias à vigilância, disciplina do trabalho, e controle social. Os computadores abriram certos espaços de liberdade, como somos constantemente lembrados, mas ao invés de levar a uma utopia sem trabalho imaginada por Abbie Hoffman, eles foram empregados de tal forma que se produz o efeito oposto. Eles permitiram a financialização do capital que levou trabalhadores desesperadamente à dívida, e, ao mesmo tempo, providenciou os meios pelos quais os empregadores criaram regimes de trabalho “flexíveis” que ao mesmo tempo destruíram a estabilidade do emprego e aumentaram as horas de trabalho para quase todo mundo. Junto com a exportação dos trabalhos de fábrica, o novo regime de trabalho tem destruído o movimento sindical e destruiu qualquer possibilidade de luta de classes efetiva.
Enquanto isso, apesar de um investimento sem precedentes na pesquisa em medicina e ciências biológicas, esperamos pela cura do câncer e da gripe, e as descobertas médicas mais dramáticas que vimos tomaram a forma de drogas como o Prozac, o Zoloft ou a Ritalina – feitas sob medida para garantir que as novas exigências laborais não nos deixem loucos ao ponto de nos deixar desfuncionais.
Com resultados como esse, qual será o epitáfio do neoliberalismo? Acho que historiadores concluirão que foi uma forma de capitalismo que sistematicamente priorizou imperativos políticos sobre imperativos econômicos. Dada uma escolha entre o curso de ação que faria o capitalismo parecer o único sistema econômico possível, e um que transformaria o capitalismo num sistema econômico viável, de longo prazo, o neoliberalismo escolhe o primeiro sempre. Tudo aponta que a destruição da estabilidade do emprego junto ao aumento das horas de trabalho não cria uma força de trabalho mais produtiva (ou mais inovadora, ou mais leal). Provavelmente, em termos econômicos, o resultado é negativo – uma impressão confirmada pelas baixas taxas de crescimento em praticamente todas as partes do mundo nos anos 80 e 90.
Mas a escolha neoliberal foi efetiva na despolitização do trabalho e na sobredeterminação do futuro. Economicamente, o crescimento de exércitos, da polícia e dos serviços privados de segurança resulta num peso morto. É possível, na verdade, que o próprio peso morto de um aparato criado para garantir a vitória ideológica do capitalismo é o que vai fazê-lo naufragar. Mas é fácil também ver como asfixiar qualquer senso de que um futuro inevitável e redentor poderia ser diferente do nosso próprio mundo é uma parte crucial do projeto neoliberal.
Até aqui todas as peças parecem se encaixar. Nos anos 60, forças políticas conservadoras se assustaram com os efeitos socialmente disruptivos do progresso tecnológico, e os empresários começavam a se preocupar com o impacto econômico da mecanização. A desvanecente ameaça soviética permitiu uma realocação de recursos em direções vistas como menos desafiadoras dos arranjos sociais e econômicos, ou mesmo direções que poderiam ajudar na campanha contra os ganhos dos movimentos sociais progressistas e a favor de uma vitória decisiva no que as elites americanas viam como uma luta de classes global. A mudança de prioridades foi vista como uma saída dos projetos de “Grande Governo” e um retorno ao mercado, mas na verdade a mudança alterou a pesquisa dirigida pelo governo para longe de programas como a NASA ou fontes alternativas de energia e em direção a tecnologias militares, médicas e informáticas.
É claro que isso não explica tudo. Acima de tudo, não explica por que, mesmo nas áreas que se tornaram o foco de projetos de pesquisas bem financiados, não temos visto nada como o avanço que foi imaginado há 50 anos. Se 95% da pesquisa em robótica é financiada pelos militares, onde estão os robôs matadores atirando raios fatais pelos olhos?
Obviamente houve avanços na tecnologia militar em décadas recentes. Uma da razões pelas quais sobrevivemos à Guerra Fria é que enquanto as bombas nucleares poderiam ter funcionado como propaganda, seus sistemas de emissão nem tanto; mísseis balísticos intercontinentais não eram capazes de atingir cidades, muito menos alvos específicos dentro de cidades, e esse fato significava que não fazia muito sentido atacar primeiro com armas nucleares a não ser que você quisesse destruir o mundo todo.
Mísseis contemporâneos são comparativamente precisos. Ainda assim, armas de precisão nunca parecem capazes de assassinar indivíduos específicos (Saddam, Osama, Qaddafi), mesmo quando centenas são usadas. E as armas de raios não se materializaram – certamente não por falta de tentativa. Podemos presumir que o Pentágono gastou bilhões em pesquisas sobre um raio da morte, mas o mais perto que chegaram foi lasers que podem, se mirados corretamente, cegar um atirador inimigo olhando diretamente para a mira. Além disso ser antidesportivo, é patético: O laser é uma tecnologia dos anos 50. Armas que atordoam os inimigos não parecem estar nos planos; e no que concerne a infantaria, a arma preferida em quase todo lugar permanece sendo a AK-47, um design soviético cujo nome vem do ano em que foi apresentado: 1947.
 A internet é uma inovação fantástica, mas é basicamente uma combinação global e super rápida de biblioteca, correios e catálogo de compras. Se a internet fosse descrita para um fã de ficção científica nos anos 50 e 60, e fosse apresentada como a conquista tecnológica mais dramática desde então, sua reação seria de decepção. Cinquenta anos e isso é o melhor que os cientistas conseguiram fazer? Esperávamos computadores que pudessem pensar!
A internet é uma inovação fantástica, mas é basicamente uma combinação global e super rápida de biblioteca, correios e catálogo de compras. Se a internet fosse descrita para um fã de ficção científica nos anos 50 e 60, e fosse apresentada como a conquista tecnológica mais dramática desde então, sua reação seria de decepção. Cinquenta anos e isso é o melhor que os cientistas conseguiram fazer? Esperávamos computadores que pudessem pensar!
Em geral, níveis de financiamento de pesquisa aumentaram dramaticamente desde os anos 70. É verdade que a proporção desse financiamento que vem do setor corporativo foi a que cresceu mais dramaticamente, ao ponto em que a iniciativa privada agora financia duas vezes mais a pesquisa científica do que o governo, mas o aumento é tão alto que a quantidade total de financiamento governamental, em dólares corrigidos, é muito maior do que era nos anos 60. Pesquisas “conceituais” ou”motivadas por mera curiosidade” – o tipo que não tem qualquer prospecto de aplicação prática imediata, e que tem mais chances de levar a descobertas inesperadas – ocupam uma porção cada vez menor do total, apesar de tanto dinheiro ser distribuído por aí hoje em dia que o total aumentou.
Ainda assim a maioria dos observadores concorda que os resultados têm sido insignificantes. Certamente não vemos nada como a corrente contínua de revoluções conceituais – herança genética, relatividade, psicoanálise, mecânica quântica – com as quais as pessoas se acostumaram, e que passaram a esperar, há cem anos. Por quê?
Parte da resposta tem a ver com a concentração de recursos em uns poucos projetos gigantes. O Projeto Genoma Humano é frequentemente citado como um exemplo. Depois de gastar quase três bilhões de dólares e empregar milhares de cientistas e auxiliares em cinco países diferentes, ele serviu principalmente para estabelecer que não há muito para ser aprendido a partir do sequenciamento genético que seja muito útil para os leigos. Ainda mais, o furor e o investimento político ao redor de tais projetos demonstram o grau em que até mesmo a pesquisa básica agora parece ser motivada por imperativos políticos, administrativos e publicitários que faz com que seja improvável que qualquer coisa revolucionária aconteça de novo.
Aqui, a nossa fascinação com as origens míticas do Vale do Silício e da internet nos cegou para o que realmente tem acontecido. Ela permitiu que imaginássemos que a pesquisa e o desenvolvimento são agora controlados, primariamente, por pequenas equipes de empreendedores destemidos, ou pelo tipo de cooperação descentralizada que cria o software livre. Mas isso não é verdade, mesmo que tais equipes de pesquisa são as que mais tendam a produzir resultados. A pesquisa e o desenvolvimento é ainda dirigida por projetos burocráticos gigantes.
O que mudou foi a cultura burocrática. A crescente interpenetração de governo, universidade e empresas levou todos a adotar a linguagem, as sensibilidades e as formas organizacionais do mundo corporativo. Isso pode ter ajudado a criar produtos vendáveis, uma vez que é isso que burocracias corporativas foram projetadas para fazer, mas em termos de estimular pesquisais originais, os resultados têm sido catastróficos.
Meu próprio conhecimento vem de universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Nos dois países, nos últimos trinta anos têm se visto uma verdadeira explosão da proporção de horas de trabalho gastas com tarefas administrativas às custas de basicamente todo o resto. Na minha própria universidade, por exemplo, temos mais administradores que professores, e destes, também, espera-se que gastem pelo menos tanto tempo na administração quanto no ensino e na pesquisa combinados. O mesmo é verdade, mais ou menos, em universidades ao redor do mundo.
O crescimento do trabalho administrativo resultou diretamente da introdução de técnicas corporativas de administração. Invariavelmente, estas são justificadas como formas de aumentar a eficiência e introduzir o princípio de competição em todos os níveis. O que elas acabam significando na prática é que todo mundo acaba gastando mais tempo tentando vender coisas: propostas de bolsas, propostas de livros, análises de currículos dos estudantes para empregos e bolsas, análises de nossos colegas, prospectos de novos cursos interdisciplinares, institutos, conferências, as próprias universidades (que agora se tornaram marcas e precisam ser vendidas a possíveis alunos e contribuintes), e por aí vai.
À medida que o marketing domina a vida acadêmica, engendra documentos sobre o estímulo à imaginação e à criatividade que podiam igualmente ter sido feitos para estrangular a imaginação e a criatividade no berço. Nenhum grande novo trabalho de teoria social surgiu nos Estados Unidos nos últimos trinta anos. Fomos reduzidos ao equivalente de escolásticos medievais, escrevendo comentários intermináveis sobre teóricos franceses dos anos 70, apesar de nossa consciência culpada sobre o fato de que se novas encarnações de Gilles Deleuze, Michel Foucault ou Pierre Bourdieu aparecessem na academia hoje, negaríamos a eles cargos de professores.
Houve um tempo em que a academia foi o refúgio dos excêntricos, dos brilhantes, dos sonhadores. Não mais. É agora o domínio dos autopublicitários profissionais. Como resultado, em um dos mais bizarros atos de autodestruição social da história, parecemos ter decidido que não há mais um lugar para nossos cidadãos excêntricos, brilhantes e sonhadores. A maior parte deles definha nos porões de suas mães, quando muito fazendo ocasionais intervenções na internet.
Se tudo isso é verdade nas ciências sociais, onde a pesquisa ainda é feita com despesas mínimas e com grande frequência apenas por indivíduos, só podemos imaginar o quão pior fica para astrofísicos. E, de fato, um astrofísico, Jonathan Katz, recentemente alertou alunos que consideravam uma carreira científica. Mesmo que você consiga passar por um período, que geralmente dura uma década, sendo o lacaio de alguém, ele diz, você pode esperar que suas melhores ideias sejam frustradas a todo momento:
Você vai gastar o seu tempo escrevendo propostas em vez de fazendo pesquisa. E o que é pior, como as suas propostas são julgadas pelos seus competidores, você não pode seguir a sua curiosidade, mas deve se esforçar para antecipar e defletir críticas em vez de resolver os problemas científicos importantes. É lugar-comum que ideias originais são o beijo da morte para um projeto de pesquisa, porque ainda não se sabe se funcionam ou não.
 Isso basicamente responde à pergunta sobre o porquê de não termos teletransporte ou sapatos antigravidade. O senso comum sugere que para maximizar a criatividade científica você deve encontrar pessoas inteligentes, dar-lhes os recursos para que elas se apliquem à ideia que lhes venha à cabeça, e deixe-os em paz. Muitas pesquisas não vão dar em nada, mas uma ou duas vão descobrir alguma coisa. Mas se você quer minimizar a possibilidade de descobertas inesperadas, diga a essas mesmas pessoas que elas não receberão recurso algum até que gastem o grosso de seu tempo disponível competindo umas com as outras para convencer você de que elas sabem de antemão o que vão descobrir.
Isso basicamente responde à pergunta sobre o porquê de não termos teletransporte ou sapatos antigravidade. O senso comum sugere que para maximizar a criatividade científica você deve encontrar pessoas inteligentes, dar-lhes os recursos para que elas se apliquem à ideia que lhes venha à cabeça, e deixe-os em paz. Muitas pesquisas não vão dar em nada, mas uma ou duas vão descobrir alguma coisa. Mas se você quer minimizar a possibilidade de descobertas inesperadas, diga a essas mesmas pessoas que elas não receberão recurso algum até que gastem o grosso de seu tempo disponível competindo umas com as outras para convencer você de que elas sabem de antemão o que vão descobrir.
Nas ciências naturais, à tirania do gerencismo podemos adicionar a privatização dos resultados das pesquisas. Como o economista britânico David Harvie nos lembrou, pesquisa de “código aberto” não é novidade. A pesquisa acadêmica sempre foi de código aberto, no sentido de que acadêmicos compartilhavam materiais e resultados. Há competição, certamente, mas é “convivial”. Isso não é mais verdade quanto a acadêmicos trabalhando no setor corporativo, onde descobertas são ciosamente protegidas, mas a difusão do ethos corporativo dentro da própria academia e institutos de pesquisa fez com que pesquisadores financiados por dinheiro público tratassem suas descobertas como propriedades pessoais. Editoras acadêmicas garantem que as descobertas que são publicadas sejam cada vez mais difíceis de acessar, trancando ainda mais o bem comum intelectual. Como resultado, a competição convivial de código aberto vira algo mais mais parecido com uma competição clássica de mercado.
Existem vários tipos de privatização, incluindo a simples compra e supressão de descobertas inconvenientes por grandes corporações com medo de seus efeitos econômicos (não podemos saber quantas fórmulas de combustível sintético foram compradas e colocadas nos cofres das empresas petrolíferas, mas é difícil imaginar que nada do tipo jamais ocorreu). Mais sutil é a forma como o ethos gerencista desencoraja tudo que seja um pouquinho diferente ou ousado, especialmente se não há prospecto de resultados imediatos. Estranhamente, a internet pode ser parte do problema nesse caso. Como Neal Stephenson disse:
A maior parte das pessoas que trabalham em corporações ou na academia testemunharam algo parecido com o seguinte: um número de engenheiros está sentado numa sala, discutindo ideias. Da discussão surge um novo conceito que parece promissor. Então uma das pessoas que tem um laptop, tendo feito uma pesquisa no Google, anuncia que essa “nova” ideia é, na verdade, uma ideia velha; ela – ou pelo menos algo vagamente parecido – já foi tentada. Ou ela falhou, ou teve sucesso. Se deu errado, nenhum gerente que quer manter seu emprego vai aprovar o dinheiro necessário para revivê-la. Se teve sucesso, então está patenteada e inserção no mercado é provavelmente inatingível, uma vez que a primeira pessoa que pensou nela terá a “vantagem de ter sido a primeira” e terá criado “barreiras” à entrada de competidores. O número de ideias aparentemente promissoras que foram destruídas dessa forma deve estar na casa dos milhões.
E então um espírito tímido e burocrático sufoca cada aspecto da vida cultural. Ele vem encoberto por um jargão de criatividade, iniciativa e empreendedorismo. Mas o jargão é irrelevante. Os pensadores que mais provavelmente farão uma descoberta conceitual são os que menos provavelmente receberão financiamento, e, se descobertas acontecerem, quem as descobre provavelmente não encontrará ninguém desejoso de ir até o fim em suas consequências mais inovadoras.
Giovanni Arrighi percebeu que depois da Companhia dos Mares do Sul, o capitalismo britânico praticamente abandonou a forma corporativa. Já pela época da revolução industrial, a Grã-Bretanha em vez disso começou a depender de uma combinação de empresas familiares e firmas de altas finanças – um padrão que continuou pelo próximo século inteiro, o período de máxima inovação científica e tecnológica (A Grã-Bretanha dessa época também é notória por ter sido tão generosa com seus esquisitões e excêntricos quanto os Estados Unidos de hoje são intolerantes. Um expediente comum era permitir que se tornassem párocos rurais, que, previsivelmente, se tornaram uma das principais fontes de descobertas científicas amadoras).
Contemporaneamente, o capitalismo corporativo burocrático foi uma criação não da Grã-Bretanha, mas dos Estados Unidos e da Alemanha, os dois poderes rivais que passaram a primeira metade do século XX lutando duas guerras sangrentas para decidir quem substituiria o Reino Unido como o poder mundial dominante – guerras que culminaram justamente em programas científicos patrocinados pelo governo para ver quem seria o primeiro a descobrir a bomba atômica. É significativo, então, que nossa estagnação tecnológica atual pareça ter começado depois de 1945, quando os Estados Unidos substituíram a Inglaterra como organizador da economia mundial.
Estadunidenses não gostam de pensar em si mesmos como uma nação de burocratas – bem o contrário, na verdade – mas no momento em que paramos de imaginar a burocracia como um fenômeno limitado a escritórios do governo, fica óbvio que é exatamente o que nos tornamos. A vitória contra a União Soviética não levou à dominação do mercado mas, na verdade, cimentou a dominação das elites gerenciais conservadoras, burocratas corporativos que usam o pretexto do pensamento a curto prazo, competitivo, voltado para o lucro, para esmagar qualquer coisa que possivelmente teria implicações revolucionárias de qualquer tipo.
 Se não notamos que vivemos em uma sociedade burocrática, isso é porque as normas e práticas burocráticas se tornaram tão comuns que não podemos vê-las, ou, pior, não conseguimos nos imaginar fazendo as coisas de outra forma. Computadores têm tido um papel crucial nesse encurtamento de nossas imaginações sociais. Assim como a invenção de novas formas de automação industrial nos séculos XVIII e XIX teve o efeito paradoxal de transformar cada vez mais e mais pessoas no mundo todo em trabalhadores industriais em tempo integral, também todo o software projetado para que pudéssemos evitar responsabilidades administrativas nos transformou em administradores em meio período ou em tempo integral. Da mesma forma que professores universitários parecem sentir que é inevitável perder mais e mais de seus tempos gerenciando bolsas, donas de casas de classe média alta simplesmente aceitam que terão que gastar várias semanas todos os anos preenchendo formulários online de quarenta páginas para matricular seus filhos no ensino fundamental. Todos nós perdemos cada vez mais tempo digitando senhas em nossos telefones para gerenciar contas de banco e cartões de crédito, e aprendendo como fazer trabalhos que uma vez foram feitos por agentes de viagens, corretores e contadores.
Se não notamos que vivemos em uma sociedade burocrática, isso é porque as normas e práticas burocráticas se tornaram tão comuns que não podemos vê-las, ou, pior, não conseguimos nos imaginar fazendo as coisas de outra forma. Computadores têm tido um papel crucial nesse encurtamento de nossas imaginações sociais. Assim como a invenção de novas formas de automação industrial nos séculos XVIII e XIX teve o efeito paradoxal de transformar cada vez mais e mais pessoas no mundo todo em trabalhadores industriais em tempo integral, também todo o software projetado para que pudéssemos evitar responsabilidades administrativas nos transformou em administradores em meio período ou em tempo integral. Da mesma forma que professores universitários parecem sentir que é inevitável perder mais e mais de seus tempos gerenciando bolsas, donas de casas de classe média alta simplesmente aceitam que terão que gastar várias semanas todos os anos preenchendo formulários online de quarenta páginas para matricular seus filhos no ensino fundamental. Todos nós perdemos cada vez mais tempo digitando senhas em nossos telefones para gerenciar contas de banco e cartões de crédito, e aprendendo como fazer trabalhos que uma vez foram feitos por agentes de viagens, corretores e contadores.
Alguém descobriu que nos Estados Unidos uma pessoa gastará em média seis meses de sua vida esperando em semáforos. Eu não sei se estatísticas semelhantes estão disponíveis para o tempo que se perde preenchendo formulários, mas deve ser pelo menos tão longo quanto aquela. Nenhuma população na história do mundo gastou nem de perto tanto tempo engajando com papelada. Nesse estágio final e embrutecedor do capitalismo, estamos nos movendo das tecnologias poéticas em direção às tecnologias burocráticas. Por tecnologias poéticas eu me refiro ao uso de técnicas racionais para transformar fantasias loucas em realidade. Tecnologias poéticas, entendidas assim, são tão velhas quanto a civilização. Lewis Mumford percebeu que as primeiras máquinas complexas eram feitas de pessoas. Os faraós egípcios conseguiram construir as pirâmides somente por causa de seu domínio de procedimentos administrativos, que os permitiu desenvolver técnicas de linha de produção, dividindo tarefas complexas em dúzias de operações simples e delegando-as a uma equipe de trabalhadores – mesmo que lhes faltasse uma tecnologia mecânica mais complexa que o plano inclinado e a alavanca. O gerenciamento transformou exércitos de camponeses em engrenagens de uma ampla máquina. Muito depois, após a invenção das engrenagens, o projeto de uma maquinaria complexa elaborou princípios originalmente desenvolvidos para organizar pessoas.
No entanto nós vimos essas máquinas – sejam suas partes móveis braços e pernas, ou pistões, rodas e molas – serem usadas para realizar fantasias impossíveis: catedrais, o voo à lua, trilhos intercontinentais. Certamente, as tecnologias poéticas tinham algo de terrível; e poesia pode-se fazer tanto sobre moinhos satânicos quanto sobre a graça divina. Mas as técnicas administrativas, racionais, sempre estiveram a serviço de algum objetivo fantástico.
Dessa perspectiva, todos aqueles planos soviéticos malucos – mesmo se nunca postos em prática – marcaram o clímax das tecnologias poéticas. O que temos agora é o contrário. Não é que visão, criatividade, e fantasias loucas não sejam mais encorajadas, mas que a maioria permanece flutuando no ar; não há mais sequer um fingimento de que elas poderiam um dia tomar forma ou corpo. A maior e mais poderosa nação que já existiu passou as últimas décadas dizendo a seus cidadãos que eles não podem mais contemplar empreendimentos coletivos fantásticos, mesmo que – como a crise ambiental demonstra – o destino da Terra dependa disso.
Quais são as implicações políticas disso? Primeiramente, precisamos repensar algumas dos nossos mais básicos pressupostos sobre a natureza do capitalismo. Um é que o capitalismo é idêntico ao mercado, e que ambos são portanto inimigos da burocracia, que é supostamente uma criação do Estado.
O segundo pressuposto é que o capitalismo é em sua natureza tecnologicamente progressista. Marx e Engels, com todo um entusiasmo frívolo pelas revoluções industriais daquele tempo, parecem ter errado quanto a isso. Ou, para ser mais preciso: eles acertaram em dizer que a mecanização da produção industrial destruiria o capitalismo; mas erraram ao prever que a competição do mercado obrigaria os donos de fábricas a se mecanizar de qualquer forma. Se isso não aconteceu, é porque a competição do mercado não é, de fato, tão essencial à natureza do capitalismo quanto se tem presumido. A forma atual do capitalismo, em que grande parte da competição parece não passar de marketing interno dentro de estruturas burocráticas de enormes semi-monopólios, seria no mínimo surpreendente para Marx e Engels.
Defensores do capitalismo fazem três revindicações históricas amplas: primeiro, que ele incentivou o rápido crescimento científico e tecnológico; segundo, que não importa o quanto ele possa jogar uma enorme riqueza nas mãos de uma pequena minoria, ele o faz de tal forma que melhora a prosperidade geral; terceiro, que ao fazê-lo, cria um mundo mais democrático e seguro para todos. Fica claro que o capitalismo não está mais fazendo nada disso. Na verdade, muitos de seus defensores estão deixando de dizer que é um bom sistema e em vez disso recuando para a posição segundo a qual é o único possível – ou, pelo menos, o único possível para uma sociedade complexa e tecnologicamente sofisticada como a nossa. Mas como alguém poderia argumentar que os arranjos econômicos de agora serão também os únicos que vão ser viáveis em qualquer possível sociedade tecnológica do futuro? O argumento é absurdo. Como seria possível comprovar isso?
É verdade que há pessoas que concordam com essa posição dos dois lados do espectro político. Como um antropólogo e anarquista, eu encontro tipos anticivilização que insistem não apenas que a tecnologia industrial atual só pode levar a uma opressão no estilo do capitalismo, mas que isso deve necessariamente ser verdadeiro de qualquer tecnologia futura também, e portanto a libertação humana só pode ser conquistada com o retorno à idade da pedra. A maioria de nós não é composta por deterministas tecnológicos. Mas afirmações sobre a inevitabilidade do capitalismo têm que se basear em algum tipo de determinismo tecnológico. E por essa mesma razão, se o objetivo do capitalismo neoliberal é criar um mundo em que ninguém acredita que qualquer outro sistema econômico funciona, então precisa suprimir não apenas a ideia de um futuro redentor inevitável, mas qualquer futuro tecnológico radicalmente diferente. Mas há uma contradição. Defensores do capitalismo não podem se propor a nos convencer de que o progresso tecnológico está de fato aumentando, que vivemos em um mundo de maravilhas, mas que essas maravilhas tomam a forma de melhorias modestas (o mais novo iPhone!), rumores de invenções prestes a ocorrer (“ouvi dizer que eles vão começar a fabricar carros voadores logo, logo”), formas complexas de fazer malabares com informações e imagens, e maneiras ainda mais complexas de preenchimento de formulários.
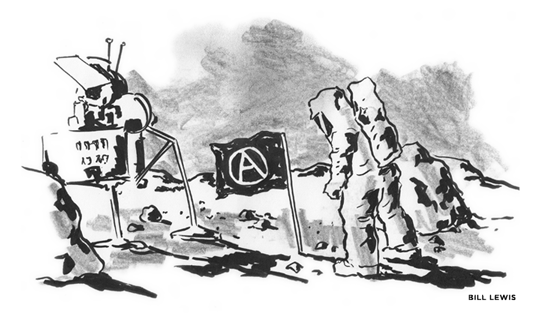
Eu não quero sugerir que o neoliberalismo capitalista – ou qualquer outro sistema – pode ser bem sucedido quanto a isso. Primeiro, há o problema de tentar convencer o mundo de que você está dirigindo o progresso tecnológico quando na verdade o atrasa. Os Estados Unidos, com sua infraestrutura decadente, paralisia frente ao aquecimento global, e o abandono simbolicamente devastador de seu programa espacial tripulado ao mesmo tempo em que a China acelera o seu próprio, está fazendo um trabalho de relações públicas particularmente ruim. Segundo, o ritmo da mudança não pode ser impedido para sempre. Avanços vão acontecer; descobertas inconvenientes não podem ser enterradas permanentemente. Outros países, menos burocratizados – ou pelo menos, lugares com burocracias que não são tão hostis ao pensamento criativo – vão lenta porém inevitavelmente chegar aos recursos necessários para continuar a partir de onde os Estados Unidos e seus aliados pararam. A internet de fato providencia oportunidades de colaboração e disseminação que pode nos ajudar a quebrar essa barreira também. De onde virá a próxima descoberta? Não podemos saber. Talvez a impressão 3D fará o que as fábricas de robôs deveriam ter feito. Ou talvez vai ser outra coisa. Mas vai acontecer.
Sobre uma conclusão podemos nos sentir especialmente confiantes: não vai acontecer dentro do enquadramento do capitalismo corporativo contemporâneo – ou qualquer forma de capitalismo. Para começar a fundar colônias em Marte, sem falar do desenvolvimento de meios para descobrir se há civilizações alienígenas com as quais entrar em contato, vamos ter que inventar um sistema econômico diferente. O novo sistema deve se parecer com uma nova gigantesca burocracia? Por que presumimos que sim? Apenas ao destruir as estruturas burocráticas existentes podemos começar esse trabalho. E se vamos começar a inventar robôs que lavem nossas roupas e limpem a cozinha, então vamos ter que nos certificar de que o que quer que substitua o capitalismo se baseie em uma distribuição bem mais igualitária de riqueza e de poder – uma que não conte mais com super-ricos, nem com os desesperadamente pobres que desejam fazer suas tarefas domésticas. Apenas então a tecnologia começará a ser direcionada para as necessidades humanas. E essa é a melhor razão para se libertar da mão morta de investidores e diretores de multinacionais – para libertar nossas fantasias das telas nas quais tais homens as aprisionaram, e deixar nossas imaginações novamente se tornarem uma força material na história humana.
Esta é uma tradução de “I Smell Your Rookie Moves, New Writers“, um texto muito interessante e informativo para escritores iniciantes em geral.
Nota do tradutor: algumas coisas são um tanto quanto específicas para o contexto dos EUA (e, nesse caso, fiz adaptações), e de outras eu pessoalmente discordo, pelo menos em quão longe este autor vai ao defender um determinado estilo de literatura como “o correto” ou “o melhor”. Além disso, não é problematizado o quanto isso aqui vale para autores iniciantes, mas como a psicologia do leitor e do “mito” em torno de clássicos ou autores consagrados torna a experiência completamente diferente – o que poderia nos levar a discutir qual devem ser, afinal, as escolhas de quem quer escrever uma grande obra a despeito do contexto pessoal, social ou histórico em que ela é escrita, se é que isso é possível. Ainda assim, considero que a leitura vale muito a pena.
Eu ocasionalmente me encontro na posição de ler trabalhos de novos escritores. Às vezes é em conferências. Às vezes é só um trecho de um trabalho que está de graça na internet ou parte de um trabalho independente. Às vezes eu só me viro na cama e lá está: um manuscrito de um novo escritor, assombrando-me como um demônio vingativo.
Eu queria muito gritar com vocês.
Agora, escutem, antes que eu comece a parte em que eu berro com vocês até ficar rouco sobre as coisas que você estão fazendo errado, eu quero que você entenda que todos nós já passamos por isso. Todos nós já escrevemos mal. Escrever mal é o primeiro passo para, bem, não escrever mal. Eu já escrevi uma boa quantidade de MERDA PODRE na minha vida, e essa é uma daquelas coisas que você tem que tirar logo do seu sistema.
(Apesar de que aqui entramos também em outra questão: MERDA PODRE não é uma delicatesse. Você faz isso lá no banheiro, com a porta bem trancada para o cheiro não espalhar pela casa, esperando que a descarga dê conta do negócio. Você não se desfaz do almoço estragado de ontem no meio da sala de estar e aí o introduz como num show de teatro: “E começou o espetáculo!”. O que estou tentando dizer é que não vale a pena automaticamente publicar seus esforços de novato por aí, especialmente se esses esforços vão custar dinheiro. A mera existência de uma história não é justificativa para sua publicação. Não faça as pessoas te dar dinheiro por seus piores esforços. Faça as coisas do jeito certo antes de pedir por dinheiro por coisas ruins).
Aqui, então, estão algumas das coisas que eu notei em rascunhos feitos por escritores novos ou inexperientes, e esses eu acho que são erros padrão – e essas são coisas que autores experientes às vezes fazem também, então vasculhe esta lista, veja se você se depara com algum desses pecados, e então conserte o seu texto. Entenderam? Tudo bem? Podemos começar?
Que a gritaria comece.
É legal, eu sei, saber de cada coisinha que está acontecendo o tempo todo sempre na sua história. Os personagens riem e sorriem. Ok. Eles mexem em alguma coisa com as mãos. Legal. Eles bebem uma xícara de chá com o dedo mindinho para fora. Claro, por que não? Mas se você está descrevendo cada soluço, arroto, peido, tremedeira, titubeada, golada e gorgolejada, isso é um problema. Um personagem liga uma lâmpada? Massa, você não precisa descrever como ele a liga. Eu não preciso ver Jacinto Leite abrindo o zíper da calça antes de mijar e, sinceramente, eu posso nem precisar ver ele mijando a não ser que isso nos diga algo sobre seu personagem. Veja, o problema é que, quando você telegrafa todos esses movimentos – quando você descreve em detalhe cada minúscula micro-expressão e movimento peristáltico do intestino, você enche a página com uma lista de supermercado cheia de Baboseira Incrivelmente Desinteressante. O que me leva a –
Numa estimativa grosseira, eu diria que 90% de Todas As Coisas No Mundo são desinteressantes. Tão chatas quanto desenhar com giz de cera branco num papel branco. Coisas são chatas. A vida é chata. Detalhes são em grande parte chatos.
Contar uma história é o oposto disso. Contamos histórias porque elas são interessantes. Oferecemos narrativas porque as narrativas são quebradoras de ossos: elas rompem o fêmur do status quo. É o forte, tão-alto-quanto-um-tiro som de fratura exposta de uma história que atrai nossa atenção. O cara vai trabalhar, trabalha, vai pra casa, janta e vai pra cama? Não é interessante. O cara vai trabalhar, tem os mesmos problemas com seu chefe, aguenta os dilemas padrões do dia (“cadê a merda do meu grampeador?”), vai pra casa, come um jantar de microondas, vai pra cama e dorme mal até o próximo dia, que é a mesma coisa? Ainda não é interessante. O cara vai trabalhar e é despedido? Ok, talvez, dependendo se ele faz algo inesperado em relação a isso. O cara vai para o trabalho, é atirado de um canhão e cai num galpão cheio de ninjas? PODE CONTINUAR.
Com a descrição é a mesma coisa. Você não precisa me contar com o quê tudo se parece porque eu já sei como as coisas se parecem, e a maioria das coisas não são tão interessantes. Folhas numa árvore são folhas numa árvore. Pelo impacto da história, quantas pontas uma folha de árvore tem ou como se movimentam no vento não é interessante. Isso não é um vídeo game em que você se beneficia de uma pintura autêntica e realista de cada aspecto do ambiente. Pule essa parte. Fale-nos do que é inesperado. As coisas que quebram com as nossas noções: uma das folhas está manchada de sangue? Então precisamos saber disso. Queremos saber disso.
Corte as coisas chatas.
Escreva as coisas interessantes.
Apare, aperte, recorte, fatie. Compacte a sua história toda. Derreta-a. Derreta-a!
O que me leva a…
Seja lá o que você está escrevendo, é muito longo. Corte um terço fora, ou mais. Faça isso agora. Eu não me importo se você não acha que deveria fazer isso, apenas faça. Tente. Você pode voltar atrás se não gostar. Considere isso um desafio intelectual – você pode completamente destruir 33% da sua história? Você pode fazer isso sem misericórdia e ainda contar a história que quer contar? Eu aposto perfeitamente bem que você pode.
A história começa na página um.
Repita: a história começa na página um.
Não começa na página dez. Não começa no capítulo cinco.
Começa na página um.
Vá logo ao ponto. Comece a história. Introduza os personagens e seus problemas e o que está em jogo em relação a esses problemas tão rapidamente quanto possível. Você acha que está sendo esperto ao não fazer isso? Você acha que precisa nos deliciar com a sua prosa luxuosa e o solo rico e argiloso do mundo que construiu e a natureza profunda dos seus personagens – ha ha, não. Estamos aqui por uma razão. Estamos aqui pela história. Se até o fim da primeira página não tem nem sinal de uma história começando? Então vamos apertar o botão e ejetar. Vamos sair de paraquedas para longe da sua atmosfera sem ar e cair num terreno onde coisas estejam realmente acontecendo.
A escrita tem regras.
Para se contar uma história (storytelling) há menos regras, e certamente mais flexíveis.
Mas escrita de verdade tem regras legítimas.
Não é matemática, não exatamente – mas as coisas se combinam de certas maneiras e somos obrigados ou a aplicar as regras ao nosso benefício ou quebrá-las para criar um efeito específico.
Você não simplesmente quebra as regras porque é divertido, ou pior, porque você as desconhece. Essa última coisa é onde a maioria dos novos escritores falham. Eles simplesmente não sabem que as coisas funcionam de uma certa forma, e quando eles escrevem em contravenção a Essas Certas Formas, nós todos sacamos isso. É muito óbvio. A prosa deles fede como vinagre enquanto eles a destilam pela página, sem saber como realmente fazer isso que nos prometeram que sabiam fazer.
Nota do tradutor: aqui o autor faz uma longa explicação sobre regras específicas ao estilo inglês de estruturação de diálogos. Para saber mais, visite diretamente o artigo original, ou visite também essa minha postagem sobre o assunto, ainda que em contexto brasileiro / português.
[…] Também cuide dos advérbios.
Advérbios têm uma má reputação na ficção, o que é uma bobagem porque advérbios estão em todo lugar. Na verdade, sabe a expressão “em todo lugar”? É uma locução adverbial! Cacete!
Advérbios, no entanto, tornam-se um problema quando fixados à força a todas as suas descrições entre diálogos. “Eu sou feita de abelhas”, Shirene disse indubitavelmente. “Eu gosto de bolo”, Roger exclamou excitadamente. “Pornô é fenomenal”, Darrell ejaculou orgasmicamente. Quando você diz essas coisas em voz alta, elas ficam péssimas. Ridículas. Elas também fazem um ótimo trabalho em nos contar coisas (telling) e um péssimo em nos mostrar coisas (showing). Se o Roger, em seu amor por bolos, nos diz o quanto ele gosta de bolos enquanto nos agarra pelos ombros e nos chacoalha violentamente, podemos ter uma ideia sobre o quanto ele está bem animado quanto aos bolos! Melhor ainda, ele não precisa nos dizer. Ele só precisa meter uma faca nas nossas costelas e e roubar o nosso bolo e então comê-lo gananciosamente sobre nosso corpo ensanguentado. Depois disso, vamos ter poucas dúvidas quanto ao quanto ele gosta da experiência de comer bolos.
Você precisa deixar os seus personagens falar.
O diálogo é o óleo que lubrifica as rodas da sua história.
E às vezes fica cansativo. Você ama seus personagens e acha que deveria permitir que eles falem e falem o dia inteiro porque eles são demais. Eles não são. Cale a boca deles. Mantenha o diálogo aparado e afeito ao essencial. Conciso e poderoso. Deixe que eles falem o que quiserem falar da forma que precisam falar – de uma maneira que melhor exemplifique quem os personagens são e o que eles querem – e então feche as bocas deles. Siga para a próxima coisa. Vamos ouvir outra pessoa ou falar sobre outra coisa.
Cada personagem precisa ser uma fonte luminosa – cada uma distinta da outra. Brilhante, e demonstrativa de sua própria cor. Não arquétipos, não estereótipos, mas pessoas complexas e facilmente distintas. E eu quero uma razão para me importar com elas. Logo de saída, eu quero isso. Eu quero saber o que elas querem, por que elas querem aquilo, e o que estão dispostas a fazer para conseguir isso. Eu preciso, dizendo de outro jeito, de suas jornadas. Sejam elas desejadas ou fardos, eu preciso saber por que essas pessoas estão aqui na página à minha frente. Isso não se aplica só ao protagonista, mas a todos os personagens.
Quem são eles?
Se você não consegue me responder rapidamente, eles se tornam ruído em vez de operar como sinal.
É muito complicado gerenciar muitos personagens.
Eu faço isso em livros e a forma como eu o faço é introduzindo-os parte a parte – não de uma vez só como se eu estivesse esvaziando uma sacola de maçãs num balcão (de onde elas sairiam rolando para longe de mim), mas um ou dois de cada vez. Deixe que eles respirem um pouco. Deixe que tenham um tempo só para eles sob os holofotes para que vejamos a tarefa acima se desenvolvendo: deixe que eles possam usar o tempo deles para nos dizer quem são, o que querem, por que o querem, o que farão para consegui-lo, e assim por diante.
Mas personagens demais de uma vez só é uma sopa com todos os ingredientes.
É uma bagunça sem consistência.
É uma coisa que eu vejo no trabalho de novos escritores.
E isso raramente funciona bem a não ser que você tenha desenvolvido a habilidade de trabalhar os seus personagens da forma como um condutor comanda todos os músicos, e seus instrumentos, em uma orquestra.
Isso sai do que eu estava falando antes sobre cada personagem sendo sua própria fonte luminosa, separada dos outros. E eu acho que é bastante claro: se cada personagem soa como uma repetição do próximo, você tem um problema. Não se trata apenas de padrões vocais. Tem a ver com o que eles estão dizendo em adição a como eles estão falando. Tem a ver com suas ideias e visão e desejos. Pense nisso da seguinte forma: não é só a sua prosa que faz de você um autor. Não é só o seu estilo. É o que você escreve. É os temas que você expressa. Personagens operam da mesma forma. Eles têm diferentes pontos de vista e necessidades. Eles também têm suas próprias formas de expressar esses pontos de vista e essas necessidades. Trabalhe nisso. Se não, eles serão apenas clones com diferentes nomes e rostos.
Pare de fazer acrobacias. Você pode fazer isso depois. Nesse momento, presuma que você tem um único objetivo: clareza. A clareza é chave. É tudo. Se eu não sei o que está acontecendo, estou fora dessa. Se eu estiver de qualquer forma confuso sobre o que está acontecendo na página? Eu vou sair daqui e ver TV, bater uma, dar uma olhada no Twitter. Faça um favor a si mesmo e tenha por objetivo somente contar a história. Pare de atrapalhar a si mesmo. Seja claro. Seja direto. Seja confiante e assertivo e mostre-nos o que está acontecendo sem nos esconder coisas importantes e sem enterrá-las sobre um monte de lama.
Você não ganha nada sendo deliberadamente ambíguo.
Esta é em parte uma tradução dessa postagem no The Writing Realm. Caberia perguntar não só o que é uma “parte lenta” em primeiro lugar, mas porque ela seria indesejável. Seria isso uma questão cultural – já que os autores e seus leitores cada vez mais buscam pelo ritmo de um Hollywood action blockbuster nas obras literárias?
Acho que não. É uma questão de dinâmica narrativa; mesmo que o estilo do autor seja longo (como o de um Saramago) ou mais descritivo (como o de um Tolkien), isso não significa prejuízo para a estrutura da história e para o interesse do leitor. Não se trata tanto dos parágrafos, mas do “momento” da narrativa; um segmento do enredo em que “nada acontece”. Há uma sensação de vazio, de tédio, que é indesejável independente de quão dependente de adrenalina você seja. Acontece em dramas, em ação, em fantasia, em suspense, em ficção científica… E é muito mais fácil de detectar enquanto leitor do que enquanto autor, pois muitas vezes trata-se de algum grupo de elementos narrativos necessário a algum encaminhamento planejado de antemão. Por exemplo, o personagem A precisa chegar até um momento B na trama; como esse é o objetivo do autor, partes ruins ao longo dessa jornada são negligenciadas ou mesmo consideradas um mal necessário.

Daí a importância de ler, reler, reler mais uma vez e reler de novo (ou seja, revisar) o que se está escrevendo. Especialmente com um espaço de tempo entre a escrita impulsiva e a revisão (dar espaço para que os olhos respirem, e cheguem com novas perspectivas ao que foi feito). Escrever é reescrever; essas dicas a seguir procuram dar direções interessantes quanto ao quê reescrever caso entenda-se que existe uma “parte lenta” na história – um momento em que você se arrasta pela leitura, querendo logo que ela acabe. Numa obra ideal, nenhum trecho da história deveria fazer o leitor se sentir assim.
Tradução de “Can’t Stop Believing: Magic and politics”, texto por David Graeber, publicado no The Baffler em 2012.
I.
Políticos são desonestos por definição. Todos os políticos mentem. Mas muitos observadores da política dos Estados Unidos concordam que, nos últimos anos, tem havido uma espécie de mudança qualitativa na magnitude dessa desonestidade. Em certos subgrupos de partidos, parece haver uma tentativa consciente de mudar as regras para que se permita um tipo de mentira flagrante e exagerada sobre os oponentes políticos que raramente vemos em outros países. Sarah Palin e seus “painéis da morte” foram pioneiros no novo estilo, mas Michele Bachmann rapidamente levou as coisas a patamares ainda mais espetaculares com suas afirmações malucas quanto a uma conspiração do governo para impor a lei islâmica nos Estados Unidos, ou planos secretos para abandonar o dólar pelo yuan chinês. Mitt Romney não superou Palin ou Bachmann na grandiosidade e na magnificência das mentiras, mas tentou compensar na quantidade, tendo baseado sua campanha presidencial inteira em uma sequência sem fim de fabricações. É quase como se os republicanos desafiassem a mídia e os democratas a chamá-los abertamente de mentirosos.
Como analisar isso? Primeiro, não pode ser uma coincidência que os três políticos supracitados são profundamente religiosos. Sarah Palin e Michele Bachmann são evangélicas; Romney foi um bispo mórmon. Nesses círculos religiosos, crenças e mentiras são coisas que se referem ao estado interno de alguém. É por isso que os apoiadores religiosos de tais candidatos não se preocupam quando a mídia revela que o que dizem é falso. Quando muito, esses apoiadores provavelmente vão ficar indignados com qualquer jornalista que sugira que mentir é o resultado de uma desonestidade consciente.
Carismáticos e evangélicos abraçam uma forma de cristianismo em que a fé é quase tudo que existe. Não se pode questionar a pureza das intenções de pessoas de fé, daqueles que se abriram ao espírito divino. E então algum elitista da mídia secular liberal vem e diz que eles são mentirosos?
O que a direita republicana está fazendo é uma versão teológica de um estilo essencialmente mágico de performance política: eles estão fazendo um universo “vir a ser” através de atos conscientes de fé. O limite é que – desde que o outro lado não seja burro o bastante para ecoar Bob Dole com a frase “pare de mentir sobre o meu histórico!” – a mágica só funciona naqueles que já os veem como moralmente superiores.
Para os liberais, é claro, isso tudo significa que os republicanos vivem num mundo de sonhos que eles mesmos produzem. Eles veem a si mesmos como uma comunidade de pessoas baseadas na realidade, o pessoal que insiste em agregar fatos e evidências e examinar o mundo do jeito como ele realmente é.
O origem dessa expressão (comunidade com base na realidade) já diz muito. Ela vem de um ensaio na revista do New York Times escrito pelo correspondente do Wall Street Journal Ron Suskind. Chamado “Fé, certeza e a presidência de George W. Bush”, o ensaio é, em grande parte, uma elaboração do mesmo argumento que acabei de apresentar, que para os fãs de Bush, a pureza de suas convicções interiores é só o que importa. Mas a passagem que fez fama a Suskind é uma em que ele faz menção a uma conversa com um “conselheiro sênior de Bush” anônimo que, diz ele, “vai ao cerne do mandato de Bush”:
O conselheiro disse que pessoas como eu estavam “naquilo que chamamos de uma comunidade com base na realidade”, que ele definiu como pessoas que “acreditam que as soluções surgem de um estudo judicioso da realidade discernível”. Eu fiz que sim e murmurei algo sobre princípios iluministas e empiricismo. Ele me interrompeu. “Não é assim que o mundo funciona mais”, ele continuou. “Nós somos um império agora, e quando agimos, criamos nossa própria realidade. E enquanto você está estudando a realidade – judiciosamente, como vocês fazem – nós vamos agir de novo, criando outras novas realidades, que você pode estudar também, e assim que as coisas vão ser. Nós somos atores da história… E vocês, todos vocês, vão ficar estudando o que nós fazemos”.
Para os liberais, essa passagem confirmou tudo em que eles sempre quiseram acreditar. Bottons e camisetas anunciando “orgulhoso membro da comunidade com base na realidade” logo apareceram. A frase se tornou um slogan. Mas há razão para acreditar que mesmo aqui as coisas não são exatamente o que parecem. Desde então outros jornalistas apontaram que o trabalho de Suskind geralmente combina uma suspeita frequência em que é muito bom para ser verdade com citações cujas fontes, quando são identificadas, veementemente negam terem dito o que Suskind afirma que disseram. Nenhuma outra pessoa alguma vez disse ter ouvido um conselheiro de Bush dizer algo remotamente parecido com isso. É possível que o próprio Suskind tenha inventado a história toda.
Seria a própria ideia de uma “comunidade baseada na realidade” uma premissa extraordinária? Na verdade, o que é realmente intrigante no debate político nos Estados Unidos hoje é que ambas a direita convencional (leia-se: extrema) e a esquerda convencional (leia-se: centrista) foram tão longe criando suas próprias realidades que uma conversa significativa se tornou impossível. Houve um tempo, por exemplo, em que liberais e conservadores poderiam discutir as raízes da pobreza. Agora eles discutem a existência da pobreza. No passado debatiam sobre como acabar com o racismo. Agora é comum ouvir conservadores insistirem que, justamente como os únicos mentirosos são aqueles que os acusam de mentirosos, os únicos racistas são os que acusam os outros de racismo. Mas o outro lado faz a mesma coisa. Se um conservador cristão quer discutir a dominância de uma “elite secular liberal” na cultura mainstream dos Estados Unidos, ou se um apoiador de Rand Paul quer falar sobre a relação entre a Reserva Federal e o militarismo do país, eles vão encontrar a mesma muralha de incredulidade.
Parece muito estranho que a esquerda convencional se identifique com a tradição do empiricismo iluminista quando seus grandes avatares passaram a última geração destruindo a própria ideia de uma realidade objetiva. A classe liberal tem seu próprio equivalente à igreja, afinal de contas, e ela é a universidade. A universidade tem os equivalentes aos teólogos, que interpretam os trabalhos de Gilles Deleuze, Michel Foucault e Jacques Derrida com a mesma reverência que pensadores radicais têm diante de Karl Marx. E o que tais autores fazem exceto jogar o projeto inteiro do iluminismo no lixo?
Tanto a esquerda democrática mainstream quanto a direita republicana, em outras palavras, têm trabalhado por muito tempo na tradição americana da mistificação, do hype e da fraude; mas eles o justificaram de formas diferentes. A direita tem dependido de uma lógica de fé e convicção interna; a esquerda já prefere uma retórica científica, e agora uma espécie de anti-ciência pós-estrutural – mas ambos realmente se resumem à mesma coisa.
Ambos são apropriados à base social de seus respectivos partidos – o 1% que os provê com fundos, culturas e sensibilidades. Os republicanos são, notoriamente, o partido dos negócios. É pouco surpreendente que idolatrem a confiança interna do CEO determinado e estejam dispostos a dizer o que for preciso para fechar negócio, e então fazer o que for necessário para gerenciar a empresa. Os democratas são o partido do que Barbara Ehrenreich há muito tempo chamou de “a classe profissional-gerencial” – um partido de professores, administradores de hospitais, advogados, trabalhadores sociais e psicoterapeutas. Pouco surpreende, portanto, que a maior expressão de seu weltanschauung seja os trabalhos de Michel Foucault, por pelo menos vinte anos um deus da academia contemporânea dos Estados Unidos, um homem que argumentou que os discursos profissionais são formas de poder que criam as próprias realidades que eles dizem administrar. Ou que durante os anos noventa e 2000, décadas em que a economia do país se tornou mais e mais explicitamente uma bolha econômica e o dinheiro de Hollywood e Wall Street em especial choveram no partido democrata, falar dessas ideias em círculos intelectuais se tornou algo mais e mais extravagante.
Não estou sugerindo uma conexão simples e direta aqui. Não é como se os acadêmicos americanos inclinados à esquerda fossem diretamente influenciados pelo dinheiro de Wall Street. Mas a beleza do sistema é que eles não precisaram ser. Eles viviam num mundo-bolha tanto quanto qualquer outra pessoa, e suas disposições teóricas existentes, nascidas do senso comum cotidiano de um mundo profissional em que o controle das impressões é tudo, refletiu a lógica de uma bolha econômica.
Eu lembro bem de conferências e seminários exatamente antes da crise de 2008, em que eu ouvia a apresentações complexas e cheias de jargão por parte de estudantes de teoria das culturas ou estudos da ciência, ou mesmo de cientistas políticos radicais. Eles diziam que a lógica emergente de “preemptividade”, “segurança” e “financialização” era um sinal não apenas do nascimento de formas novas e jamais vistas de poder social, mas também uma transformação da própria natureza da realidade. “Nós da esquerda precisamos aprender com os neoliberais”, eu lembro de ouvir um jovem graduando dos estudos culturais dizer (graduandos dos estudos culturais geralmente consideram a si mesmos a crista da onda da esquerda global, mesmo que não tenham nenhum ativismo político), “porque, para ser sincero, eles estão na nossa frente de várias maneiras. Quer dizer, esses caras descobriram como criar valor a partir do nada!”
Eu me lembro de responder “Sabe, o pessoal de Wall Street têm um nome para esse tipo de coisa. Chama-se ‘fraude'”. Mas eu não acho que as pessoas me ouviram. A maioria dos radicais acadêmicos se limitaram a uma linguagem teórica de acordo com a qual a própria ideia de fraude quase não faz sentido. Ao transformar ciência em anticiência, empiricismo iluminista em seu oposto, a esquerda acadêmica ficou com a noção de que a performance realmente é tudo que existe.
As tendências intelectuais foram do surgimento da “teoria da performance” em si no final dos anos 80, à emergência, nos anos 90, da teoria ator-rede, com sua insistência de que mesmo os objetos da pesquisa científica são criados por processos políticos de negociação, persuasão e construção de alianças entre cientistas, instituições, objetos, animais e micróbios. Mas a essência da questão é: durante o período em que a economia dos Estados Unidos (e por extensão a de todo o atlântico norte) se tornou cada vez mais baseada na produção de bolhas financeiras de um tipo ou de outro, seus intelectuais simultaneamente parecem ter decidido que absolutamente tudo é simplesmente o produto da performance política. A economia de bolha foi uma espécie de apoteose da magia política.
Mas como qualquer verdadeiro mágico (ou político bem-sucedido) pode revelar, não é assim tão simples. É verdade que todos aceitamos que um presidente é acima de tudo alguém que sabe como agir como um presidente; nós criticamos os candidatos por qualquer incapacidade aparente de atuar nesse papel. Mas se um candidato abertamente dissesse que ter “jeito” de presidente é a única qualificação necessária para ser presidente, suas chances de ser eleito seriam próximas de zero. No mundo real, todos os jogos de ambiguidade permanecem em ação. Tudo que temos feito é inventar razões para não refletir sobre eles.
Pelo menos o (possivelmente imaginário) conselheiro de Bush do Ron Suskind tinha ciência de que a fé não é suficiente quando se trata de criar novas realidades: você precisa de força militar também. A diferença entre o mágico e o político é exatamente essa: o conhecimento de que este último pode, se isso um dia se tornar necessário, solicitar a ajuda de homens armados – sejam eles do exército ou da polícia. Essa é a carta na manga.
Realidades políticas são sempre uma combinação obscura de medo, desejo e pensamento ambíguo. Você deve se perguntar se o cidadão médio acredita que a ordem política vigente é justa, ou se ele acredita que todos os outros cidadãos acreditam que ela é justa. Você deve se perguntar se ele acredita que há uma forma de realizar suas melhores ambições de outra forma que não em um mundo que ele já acredita ser uma fraude; você também deve se perguntar se ele acredita que tentar mudar as coisas, ou mesmo dizer em voz alta que o mundo todo é uma fraude, pode deixá-lo em maus lençóis (como revelou o recente destino do Occupy Wall Street, mesmo quando brancos de classe média vão às ruas dizer verdades inconvenientes nos Estados Unidos de hoje a violência é uma possibilidade real). E então você deve se perguntar se todo mundo acredita que vão ser violentados se eles tentarem mudar as coisas – ou apenas se todo mundo acredita que todo mundo acredita que é isso que vai acontecer. O salão de espelhos não tem fim.
II.
 Entre as distorções rotineiras, as meias-verdades oportunistas, e as ideologias chiques que agora compõem o discurso político, qualquer interlocutor honesto tem que se debater com a questão sobre como o auto-engano funciona como um sistema de crenças auto-administrado. Estudantes da arte da propaganda têm notado há muito tempo a imitação formal de ciência empírica que ela é, mas o fato de ela ser uma embalagem falsa não trata dos dilemas mais profundos quanto à crença autoconsciente em um método predileto de propaganda. A fórmula clássica do problema questiona como algumas pessoas podem se forçar a acreditar em algo que parece ser ilusório para outras pessoas. Mas essa fórmula presume que as pessoas não podem estar erradas quanto ao que elas acreditam. Será possível pensar que você acredita em algo quando, na verdade, não acredita, ou pensar que você não acredita em algo quando, na verdade, você acredita?
Entre as distorções rotineiras, as meias-verdades oportunistas, e as ideologias chiques que agora compõem o discurso político, qualquer interlocutor honesto tem que se debater com a questão sobre como o auto-engano funciona como um sistema de crenças auto-administrado. Estudantes da arte da propaganda têm notado há muito tempo a imitação formal de ciência empírica que ela é, mas o fato de ela ser uma embalagem falsa não trata dos dilemas mais profundos quanto à crença autoconsciente em um método predileto de propaganda. A fórmula clássica do problema questiona como algumas pessoas podem se forçar a acreditar em algo que parece ser ilusório para outras pessoas. Mas essa fórmula presume que as pessoas não podem estar erradas quanto ao que elas acreditam. Será possível pensar que você acredita em algo quando, na verdade, não acredita, ou pensar que você não acredita em algo quando, na verdade, você acredita?
Na verdade, há toda uma corrente de pensamento dedicada a entender como isso pode ser possível. O termo fetichismo aparentemente foi cunhado por comerciantes europeus no oeste da África, para explicar como seus colegas africanos faziam tratos comerciais. Isso foi nos séculos XVI e XVII, quando os europeus estavam atrás de ouro, em geral antes de começarem a comerciar escravos. Parece que em muitas cidades portuárias africanas daquele tempo, era possível improvisar um novo deus em virtude da ocasião comercial; era só trazer algumas miçangas, penas e pedaços de alguma madeira rara, ou então só pegar qualquer objeto peculiar ou de aparência significante que calhou de você encontrar ao longo da praia, e então consagrá-lo com uma promessa mútua. Fetiches mais elaborados que serviam para proteger comunidades inteiras poderiam consistir em esculturas, geralmente deslumbrantes, a qual as partes contratuais poderiam arranhar com as unhas, irritando o deus recém-criado para garantir que ele estivesse no clima certo para punir transgressores. Mas para um mero acordo comercial com um estrangeiro, uma tábua qualquer servia.
O ato de fazer uma promessa transformava o objeto num poder divino capaz de causar uma destruição terrível em qualquer um que violasse seus novos compromissos. O poder do novo deus era o poder do acordo. Tudo isso estava a um passo de significar que um objeto era um deus porque os humanos diziam que ele era, mas todos insistiriam que, não, na verdade, os objetos estavam agora investidos com um poder terrível e invisível. E se alguma catástrofe inesperada realmente acontecesse com uma das partes – o que não era nada incomum, considerando que os europeus quebravam seus navios em tempestades ou morriam de malária o tempo todo – alguém poderia sempre dizer que nada disso teria acontecido se os homens mortos não tivessem de alguma forma quebrado suas promessas.
Os comerciantes africanos realmente acreditavam no poder de seus fetiches? Muitos pareciam pensar que sim, mesmo que se eles com frequência agissem como se os fetiches fossem apenas conveniências comerciais. Mas o mundo dos encantamentos mágicos está cheio desses paradoxos. O que é absolutamente certo é que os europeus, acostumados a pensar em termos teológicos, simplesmente não conseguiam entender essa prática. Como resultado eles tendiam a projetar sua própria confusão nos africanos. Logo a própria existência de fetiches servia como prova de que os africanos eram absolutamente confusos quanto a assuntos espirituais; filósofos europeus começaram a discutir se o fetichismo representava o estado mais baixo possível da religião, um em que o fetichista estava disposto a adorar absolutamente qualquer coisa, uma vez que ele não tivesse teologia sistemática alguma.
Não demorou muito, é claro, para que figuras europeias como Karl Marx e Sigmund Freud se perguntassem: “mas somos realmente tão diferentes?”. Como Marx notou, a história ocidental é a história de nós criando coisas e então nos ajoelhando diante delas, adorando-as como deuses. Na Idade Média o fazíamos com hóstias, cálices e relicários. Agora o fazemos com dinheiro e objetos de consumo. Daí o famoso argumento de Marx sobre o fetichismo da mercadoria. Estamos constantemente manufaturando objetos pra nosso uso e conveniência, e então falando deles como se eles estivessem carregados com algum poder sobrenatural estranho que os torna capazes de agir por sua própria vontade – em grande parte porque, de uma perspectiva imediata e prática, isso bem que pode ser verdade.
Quando um negociante de commodities abre o Wall Street Journal e lê que o ouro está fazendo isso, o petróleo e a carne de porco estão fazendo aquilo, ou que o dinheiro está fugindo desse mercado e migrando para outro lugar, ele acredita no que lê? Certamente ele não acha que o faz. Não haveria nenhum sentido em chamar o negociante à parte e explicar que ouro e petróleo são objetos inanimados que não podem fazer nada por eles mesmos. A resposta seria pura irritação. É claro que é só um modo de dizer! O que você acha que eu sou, algum otário? Mas em todos os sentidos pragmáticos, ele de fato acredita nisso, porque todo dia ele vai até a bolsa de valores e age como se isso fosse verdade.
Traduzido daqui.