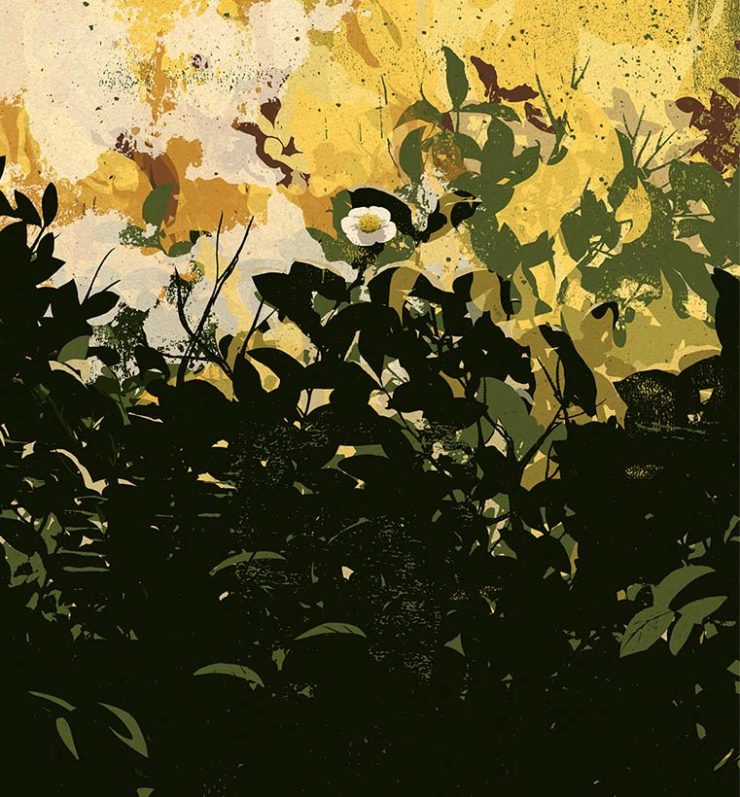Editado por Diana M. Pho
Traduzido por Peterson Silva – leia o original aqui
Será que, num mundo renovado, ainda há espaço para quem só sabe destruir? Defendendo uma comuna produtora de chá nas florestas do noroeste dos Estados Unidos, uma pessoa busca uma resposta.
O céu noturno estava tingido de cinza-primavera, que é diferente do cinza-inverno, e a luz suave que descia por entre as nuvens iluminava o festival. O fogo dançava, as pessoas dançavam, e o meu namorado dançava com uma mulher que estava ali para trabalhar na colheita. Parecia que estavam se dando bem. Estava tudo perfeito no que restava do mundo.
Ali, no Chalé da Passagem, colhemos a maior parte de nossas folhas de chá no festival de Beltane. Tradicionalmente, a primeira colheita ocorria em março e a segunda em junho. Mas, tradicionalmente, o chá era importado da Ásia e, obviamente, há décadas não temos contato com nenhum lugar assim distante. Portanto, embora façamos uma primeira e segunda colheita modestas, a maior parte do que cultivamos é o que se chama de “Darjeeling-da-Passagem”. Mas como nós o cultivamos no meio do que costumava ser chamado de Estado de Washington, não é realmente Darjeeling, só
da-Passagem.
De uma xícara de cerâmica tomei um gole de chá de cogumelo, mas fraco, só o bastante para me deixar mais alerta, para me fazer perceber padrões de corpos e luzes. Eu não estava trabalhando, mas estava de plantão, e meu rifle estava empilhado no posto de guarda perto do portão leste, então não queria ficar alterada, foi só uma xícara mesmo. Havíamos adulterado o cogumelo com oolong da primeira colheita, e uma luta era travada na minha garganta entre os sabores agradáveis e os repugnantes, uma pequena guerra entre a cafeína e a psilocibina.
A banda tocava canções de guerra em violões, violinos e tambores. Os belos homens do coral cantavam as músicas que embalaram as minhas lutas, canções que eu adoro. Canções que nos transportam do mundo dos vivos para o limiar entre a batalha e o sexo, onde fazemos a vida e tiramos a vida. Meus pés descalços na terra, o vento da montanha nos meus cabelos.
A parceira de dança do meu namorado se afastou da multidão, e eu fui até ela.
“Você deve ser a Aiden”. Ela se virou para mim.
“Eu sou”.
“Khalil estava falando de você agora mesmo”.
Khalil ainda dançava, agora sozinho, chutando suas pernas grossas enquanto girava. Ele estava todo desajeitado, bem como ele gostava.
“Eu amo ele”, eu disse.
“É, eu percebi”, disse ela. Ela olhava para ele da mesma forma que eu olhava para ele.
“Você devia dormir com ele”, eu disse.
Ela se virou para mim.
“A faísca se foi”, eu disse. “Já faz anos. Eu me viro sem isso, mas não é tão fácil para ele.”
Ela ficou só me encarando. Eu nunca fui boa em ler rostos. Vi minha imagem dançar à luz do fogo no reflexo dos seus olhos verdes.
“É assim que funciona para mim, pelo menos”, continuei. “Sempre que eu durmo com outra pessoa, me dá mais vontade de ficar com ele. Você deveria dormir com ele”.
Um cheiro de outono interrompeu minha linha de pensamento. Não deveria haver qualquer cheiro de outono no festival Beltane, mas lá estava ele, em meio ao cheiro dos campos de chá, do ferro no suor dos dançarinos, da fumaça de pinheiro.
Uma voz ecoou pelos aromas da noite: “Fogo!”
Folhas de chá queimando. Era cheiro de folhas de chá queimando.
Corri para pegar meu rifle, agarrei-o e fui para as fileiras de plantas em direção à crescente coluna de fumaça. Ela começou como uma coluna dórica, tornou-se Atlas segurando o mundo em seus ombros; quando cheguei diante dela, era Yggdrasil, grossa e viscosa, sustentando cada um dos mundos.
Não havia raios, nenhuma causa provável a não ser incêndio criminoso, e eu corri para a borda da floresta além dos campos à procura de culpados. À noite, vemos movimento. De dia, vemos formas. Mas no anoitecer, não vemos nada. Não vi nada.
Foram necessários cinquenta de nós para evitar que o fogo se espalhasse cortando um aceiro, arrancando as plantas de chá com facões enquanto o fogo destruía nosso sustento. A banda seguiu tocando, porque o que mais se pode fazer.
Dos cem quartos do Chalé, o nosso ficava no canto nordeste, mais próximo dos campos e da floresta. Nossa cama era tão antiga que tinha um dossel; já era antiga antes do apocalipse. Já havia passado por coisas piores do que nós.
O efeito do chá tinha passado, mas as noites de primavera têm uma magia própria que eu nunca entenderei ou perdoarei, e não havia nenhuma célula em meu corpo que estivesse sóbria ou responsável. Khalil estava de lado, olhando pela janela para os campos queimados iluminados pela lua e para os bosques escuros que a lua não conseguia iluminar. Fiquei na porta.
“Desculpa”, ele disse.
“Está bem”, eu disse. Não estava.
“É que é Beltane, sabe. É a primavera. Sexo e flores e tudo o mais. Eu deveria querer você”.
“Está tudo bem”, eu disse. Não estava. “Nunca liguei muito pra primavera”. Essa parte era verdade.
“Você está linda hoje”, ele disse, mas ele estava olhando para a floresta. Ele não me olhava mais muito.
“E aquela mulher, que estava dançando com você?”, perguntei.
“Aquela que começou a me evitar depois que você assustou ela?”
“Essa mesma”.
“Está tudo bem”, ele disse.
Não havia muito mais a dizer. Saí do nosso quarto, deixando-o lá para ir dormir no posto de guarda.
Os primeiros raios de sol me encontraram na floresta com Bartley, nossa batedora. Samambaias-espada cresciam do chão, avencas cresciam nas paredes rochosas dos barrancos, e usneas pendiam de todos os galhos de todas as árvores em belos jorros de verde. Caminhamos ao longo de cedros derrubados em meio à úmida névoa. Eu não seguia os passos da Bartley, não exatamente, porque se uma pessoa deixa rastros, duas deixam uma trilha.
A floresta é algo que eu conheço. Um rifle é algo que eu conheço. Violência, eu conheço.
Paramos para o desjejum sob os galhos de um velho algodoeiro negro que se elevava sobre grande parte do resto da floresta. Comemos carne seca, dura mas fresca, e compartilhamos uma térmica de chá. Só chá.
“Você perdeu a trilha, né?” perguntei.
“Nunca teve trilha nenhuma”, disse Bartley. Bartley tinha um olho preguiçoso, estava sempre olhando para os lados como uma presa. Cinza e branco marcavam presença em seu cabelo outrora negro, e ela tinha idade suficiente para se lembrar do velho mundo. Ela sempre jurava que não, que a primeira coisa de que se lembrava era de estar sozinha na floresta, mal tendo passado da puberdade, cortando um cervo. Sua vida havia começado ao mesmo tempo em que tantas vidas haviam terminado. Muitas pessoas de sua idade são assim.
Khalil e eu, nossas vidas começaram com nossos nascimentos, no ano seguinte, na explosão de nascimentos pós-colapso. Quanto mais perigoso ficavam as coisas, mais crianças nasciam.
“O que estamos fazendo, então?” perguntei.
“Se eu fosse nos atacar, teria acampado nessa colina”, disse Bartley. “Há uma nascente lá em cima para beber água, e alguns penhascos abertos para nos espionar”.
“Por que acha que eles fizeram isso?” perguntei.
Bartley deu de ombros. “As pessoas não gostam quando os outros têm coisas boas”.
O Chalé da Passagem era uma coisa boa, isso era inegável. Éramos um grupo de cinquenta e cinco adultos, quarenta crianças e outras dezesseis pessoas entre as duas categorias. Construímos o chalé há dez anos, assim que o novo mundo se estabeleceu e traçou suas fronteiras políticas, assim que eu deixei minha adolescência. Cultivamos chá e desempenhamos nosso papel na rede de ajuda mútua do novo mundo, composta por algumas cidades-estado, comunas e vilarejos interdependentes. Vendíamos, dávamos ou trocávamos provisões para as pessoas que passavam pelo antigo túnel da ferrovia e protegíamos a Passagem da Fuga, limite leste do novo mundo.
Bem, na maioria das vezes, Bartley e eu protegíamos a Passagem da Fuga. Todos sabiam lutar, todos ficavam de guarda em rodízio, mas Bartley cuidava de questões de terreno e de rastreamento, enquanto eu cuidava de questões táticas.
“Quem fez essa carne seca?” perguntou Bartley. “E que tipo de animal de carne horrorosa mataram para fazer isso?”
“Está de mau humor?” perguntei.
“Óbvio”, disse Bartley. “Estou de ressaca e nem consegui dormir entre a bebedeira e agora”.
Ela chacoalhou a térmica.
“E ainda acabou o chá”.
Pegamos ele com as calças na mão. Não foi sorte – ficamos esperando por quase uma hora que ele fizesse alguma coisa, como cair no sono ou levantar para mijar. Bartley estava certa – ele tinha acampado na beirada, camuflando-se num arbusto, observando o Chalé com binóculos anti-reflexo.
Ele estava subnutrido, ou talvez esse fosse o biotipo dele, e ele coçava o couro cabeludo o tempo todo. Era mais jovem que eu, tinha menos da metade da idade de Bartley, e tinha todo o jeitão de um garoto da cidade. Suas roupas eram inadequadas para o lado oeste das montanhas – muito urbanas, muito velho mundo.
Lá estava ele, mijando no penhasco, quando saí de trás da árvore com um rifle apontado para ele. Eu o vi pensar em pegar seu rifle, e o vi perceber que isso não ia funcionar. Ele colocou as mãos para cima. Se ele fosse esperto e sua gangue tivesse dinheiro, ele teria um rádio configurado para transmissão automática ativada por voz, e haveria alguém ouvindo do outro lado. Mas ele era burro demais para raspar aquele cabelo infestado de piolhos. Eu tinha certeza de que ele estava completamente despreparado.
“Você vai me contar várias coisas”, eu disse. “Se me contar essas coisas, vai ganhar suprimentos e uma viagem de ida em qualquer caravana que você quiser”
“Não te digo nada, filha da puta”
Atirei nele. O rifle bateu no meu ombro, e o barulho afastou pássaros e machucou meus ouvidos. A bala o acertou na nuca e o mandou desfiladeiro abaixo.
“Tá de sacanagem?” Bartley perguntou.
“Bem eu não ia torturar o garoto, e ele não foi bacana”
Bartley balançou a cabeça. “Agora vamos ter que procurar ele, sabe”, disse ela. “Procurar o corpo dele”.
“Talvez ele tenha chá”.
Eventualmente encontramos os destroços do homem na base do penhasco, suas costelas brotando do peito. O sol do meio-dia e eu ficamos de olho na floresta enquanto Bartley vasculhava o corpo.
“Me ajuda a levantar ele”, disse Bartley.
Coloquei minhas mãos sob o que restava das axilas do bandido e o levantei. Suas entranhas pingaram na minha perna.
“Estou ficando velha demais para isso. O novo mundo está ficando velho demais para isso”, eu disse, porque era o que as pessoas deveriam pensar, mas eu realmente não sentia isso. A paz não funcionava para mim. A batalha é uma coisa que me pega fundo, me faz querer viver. O amor me pega fundo, me faz querer morrer.
Bartley vasculhou seus bolsos. Achou um baralho tosco de mulheres peladas e o jogou na floresta. Em outro bolso, encontrou um mapa topográfico. Por último, um rádio. Ela o desligou.
“Inferno”, eu disse. “Eles ouviram tudo”.
“Inferno mesmo”.
“O que tem no mapa?”, perguntei.
“Não tem nada marcado, mas ele é bem limitado, não cobre mais que uns trinta e cinco quilômetros quadrados. Já que o Chalé não está no centro, eles podem estar. Fica no meio do caminho daqui até o túnel”.
“Eles sabem onde estamos”, eu disse, “mas nós não sabemos onde eles estão”.
“Podem atacar hoje à noite”.
“Aposto que o fogo foi pra nos tirar da toca”, eu disse. “Colocaram esse garoto aqui para ver como organizaríamos nossa defesa”.
“Qual é o plano?”
“Eu não gosto da ideia de você ir sozinha…”
“Mas talvez eu tenha que ir sozinha”, disse Bartley.
“Eu vou avisar as pessoas, armar as patrulhas e levar as crianças pro abrigo”.
“E eu volto aqui pro alcance do rádio para falar com vocês quando descobrir onde eles estão”.
Começamos a descer a colina. O sol estava no meio do horizonte; cortava meus olhos e assava o sangue do garoto nas minhas roupas. Saímos da floresta e descemos até os trilhos da ferrovia cerca de um quilômetro a leste do Chalé. Bartley veio comigo no meio quilômetro ou mais em que nossos caminhos se sobrepunham.
“Eu sempre gostei de andar em trilho de trem”, disse Bartley.
“Ah, é?”, perguntei. Eu não estava realmente curiosa, mas preferi ouvir sua voz e não meu coração batendo sem ritmo, como sempre acontecia depois que eu atirava em alguém. O doutor diz que é só nervosismo, o que alguns livros antigos chamam de ansiedade generalizada. Para mim é sorte minha ser só isso que acontece comigo, carmicamente falando.
“Estradas são um inferno”, disse Bartley, “porque são fáceis. Não é fácil fazer uma estrada? Pega um monte de gente para andar bastante num mesmo lugar, você tem uma estrada. Você anda por uma estrada, é fácil, você pega no sono, e tem um babaca se escondendo com uma arma e você nem percebe porque está com a cabeça no mundo da lua. Estradas são um inferno”.
“Parece até eu e o Khalil. A gente se acomodou. Abriu uma estrada”.
“Agora, ferrovias, ferrovias são ótimas”, Bartley continuou. “Elas são difíceis de fazer. É difícil andar em cima delas. Elas são tão especializadas, e a melhor parte é que elas são especializadas para uma coisa que não existe mais. Elas não foram feitas pros nossos carrinhos puxados por vacas ou por pedais, elas foram feitas para quilômetros e quilômetros de vagões puxados por pura força de carvão. Quando você usa uma coisa especializada, e usa ela do jeito errado, essa é a beleza da vida”.
“Eu pensei que você estava mal-humorada”, eu disse.
“Eu estava mal-humorada”, Bartley disse. “Mas agora eu estou andando numa ferrovia”.
Nós construímos o chalé num vale estreito perto da Passagem da Fuga. O Rio Verde protegia o nosso norte, e as montanhas, o nosso sul. Uma estrada vinda do oeste terminava na porta do chalé, e uma ferrovia atravessava toda a nossa terra. Nós não tínhamos muros.
Não tínhamos muros por mil razões. Não tínhamos muros porque éramos pacíficos. Não tínhamos muros porque, embora cada vez mais raros, morteiros, granadas e foguetes ainda faziam parte deste mundo. Até mesmo alguns helicópteros, pelo que ouvi falar, sobreviveram às ondas eletromagnéticas que varreram da Terra tanta tecnologia, e helicópteros não respeitam muros. Não tínhamos muros porque um muro de pedra cega tanto o defensor quanto o atacante. Fechamos a estrada e a ferrovia, mas os portões ficavam abertos durante o dia.
Khalil estava me esperando no portão quando voltei. Ele tinha colocado aquela palheta no cabelo afro curto dele, aquela palheta que o comerciante me disse que era de tartaruga, e quem era eu para dizer que não era. Aquela que Khalil dizia que dava sorte, e quem era eu para dizer que não dava.
Ao me ver chegando, um sorriso dividiu sua barba. O sorriso crescia enquanto eu me aproximava, até eu estar em seus braços.
“Ouvimos um tiro”, ele disse. “Horas atrás”.
“Atirei em alguém”, eu disse. Eu era tão pequena no seu abraço. Ele era uma das únicas pessoas no mundo que era grande o bastante pra me fazer sentir pequena.
Ele beijou a minha testa, eu inclinei o pescoço para olhar para os olhos castanho-escuros por trás de seus óculos, aqueles olhos da mesma cor que os meus, e o beijei.
“Você está bem?”, ele finalmente perguntou.
“Estou bem”.
“Você levou horas para voltar. Estou esperando por você há horas”.
Eu me afastei, coloquei meu rifle no posto de guarda. Os corvos estavam de sentinela no portão.
“Eu não consigo lidar com você se preocupando comigo”, eu disse.
Era a coisa certa a dizer, porque era verdade.
Era a coisa errada a dizer, porque eu o amava.
Ele levantou os óculos, esfregou os olhos. “Eu sei”, ele disse. E foi embora.
Meu olhar se demorarou em suas costas, e eu ainda me sentia pequena. O vento uivava pelos campos de chá.
Levei as crianças e os enfermos para o abrigo antiaéreo — uma relíquia centenária de uma geração paranoica que estava certa sobre o apocalipse, mas errada sobre quando ele iria acontecer — e comecei a organizar uma vigília geral. Quinze pessoas estavam de plantão o tempo todo, nenhum adulto fisicamente apto estava isento de fazer um turno. Ninguém gostou, mas ninguém reclamou. Eu não digo aos cozinheiros o que nos dar de comer, não digo ao doutor como nos costurar, e não digo a Khalil ou aos outros horticultores quando nos recrutar para os campos para fazer uma colheita.
Já era tarde o bastante na primavera para que o sol se espraiasse baixo no céu, e acabei limpando rifles e contando balas. O que me deixou sem nada para fazer com meu cérebro a não ser repetir a conversa com Khalil repetidamente em minha mente, como se eu estivesse trancada na sala de computadores do porão com um vídeo repetindo infinitamente — eu podia virar a cabeça, mas ainda conseguia ouvir tudo. Assistindo a um vídeo, no entanto, eu podia esperar até o sol se pôr, a energia solar acabar, e o computador desligar. Não era tão fácil assim sair da minha cabeça.
Há um certo tipo de paz em uma fazenda, e as folhas de chá eram como esmeraldas ao luar. Os pássaros noturnos cantavam na floresta, as árvores se erguiam como corvos no horizonte.
Há um certo tipo de paz em segurar um rifle também. Ele tem a mesma simplicidade, a mesma honestidade. Com aquele rifle, naqueles campos, minhas intenções eram claras — nós trabalhamos a terra e defendemos os frutos do nosso trabalho.
Andei pelo perímetro leste, pelas fileiras de chá e pela cicatriz queimada onde antes havia tantas plantas do nosso chá. À frente, na guarita, luzes elétricas cuspiam uma enchente de vermelho pelos trilhos e pelas colinas. Usávamos vermelho para salvar nossa visão noturna. Usávamos luzes porque elas eram uma boa distração — faziam qualquer atacante em potencial acreditar que nossa atenção estava focada na ferrovia.
Eu tinha aprendido tudo o que sabia sobre táticas do jeito mais difícil. Havia mais corpos enterrados nos nossos campos que pessoas morando no alojamento.
Mas naquela noite, enquanto eu apertava um rádio na mão esperando a voz da Bartley, eles não vieram atrás de nós pelas árvores. Eles não vieram atrás de nós pelos trilhos, ou pelo rio, ou pelas montanhas ou pelas estradas. Eles vieram atrás de nós com artilharia.
Demorou três segundos para dois tiros destruírem o chalé. Eu vi meteoros cruzarem o céu em uma trajetória baixa e reduzirem minha casa a escombros. Eram projéteis traçantes, queimando fósforo pelo céu ajudar o artilheiro a mirar. Eles vieram do leste. Da Passagem da Fuga.
Eu derrubei árvores mais velhas que os meus avós para ajudar a construir aquele chalé. Eu pedalei oitenta quilômetros com vergalhões pelos trilhos das ruínas de Tacoma para reforçar a alvenaria, e matei duas pessoas — uma mulher e um homem — que tentaram me roubar no caminho. Eu gostava de pensar que sabia diferenciar os maus dos desesperados, e aqueles dois eram só desesperados. Deixei os ossos deles na floresta.
Três segundos, dois tiros, e todo o nosso trabalho se foi.
Com adrenalina no sangue, eu não processo som, cheiro ou toque conscientemente. Tudo é visual, tudo é câmera lenta. Corri pelos campos verdes em direção ao chalé destruído enquanto as pessoas saíam dele. Todo mundo gritava. Talvez eu estivesse gritando.
Vi Khalil atravessar a rua, carregando alguém em direção ao abrigo antiaéreo. Aquele homem existia para ajudar as pessoas, para carregar as pessoas, para amparar verdes brotos em sua jornada do solo à luz. Eu existia para outros propósitos. Desisti de voltar ao chalé — eles poderiam reconstruir tudo aquilo sem mim, e Khalil estava vivo, e o que é que eu ia fazer ali, eu era a guarda deles e tinha falhado na minha missão e eu não conseguia olhar Khalil nos olhos — e corri para o portão.
Coloquei um carrinho nos trilhos, sentei nele, coloquei os pés nos pedais e dei uma última olhada por cima do ombro. Khalil estava me observando, com as mãos nos quadris. Seu peito arfava, ele virou a cabeça e foi embora. Seu jeito de andar me disse mais do que qualquer palavra já havia dito. Era o andar de um homem que tinha desistido.
Pedalei para o leste com meu rifle no colo. Pedalei até a adrenalina passar e a névoa da noite ficar cada vez mais espessa e eu ter a chance de perceber o tamanho da confusão em que eu tinha acabado de me meter sozinha, o que era melhor que reconhecer a confusão da qual eu tinha acabado de fugir.
Não fazia sentido destruir o alojamento. Não fazia sentido destruir os campos de chá. Fazia sentido capturar nossas posses. Seja lá quem eu estava perseguindo, eu não os entendia. Se você conhece seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você conhece a si mesmo e não seu inimigo, terá tantas derrotas quanto vitórias. Se você não conhece nem a si mesmo nem seu inimigo, jamais conhecerá a vitória.
Eu já tinha pedalado por esses trilhos centenas de vezes. A Cordilheira das Cascatas era o meu lar, eu cresci sob sua sombra. Mas o medo se infiltra no seu sistema e transforma o familiar em alienígena. A névoa era grossa como leite, como sempre fora. Meus olhos rastreavam movimentos que eu sabia ser inconsequentes — o luar se movendo por entre os galhos soprados pelo vento, o brilho da luz no aço dos trilhos.
Passei por uma caixa de junção enferrujada, ainda pintada com pichação de antes do colapso, o que significava que o túnel estava a apenas algumas centenas de metros de distância. Parei de pedalar, acionei o freio para que o carrinho não rolasse de volta ladeira abaixo, e o desmontei o mais silenciosamente que pude.
É difícil disfarçar o som de calcanhar em cascalho. Eu ouvi o meu, mas tinha outro passo, mais fraco, bem atrás de mim. Uma mão apertou meu ombro. Eu me virei e fui pegar a faca no meu cinto.
Bartley.
Ela tinha um dedo sobre os lábios, seus olhos revelando a exaustão de quem não dormiu nada. Subimos o barranco, parando onde quase não podíamos mais ver os trilhos. Minhas mãos repousaram na casca de um pinheiro, seu cheiro inundando meus sentidos, eu me sentia totalmente em foco.
“Eles estão no túnel”, ela disse, murmurando baixinho no meu ouvido. “Eles têm artilharia militar. Duas armas enormes em dois vagões, além de um trem inteiro com armas entrando no túnel.”
“Quem são eles?”
“Não sei. Eu vi uns vinte. A maioria acampando dentro do túnel, pra lá da artilharia. Parece que estão lá há alguns dias”.
“Uniformes?”, perguntei.
“Não”.
“Motivo?”
“Não faço ideia”, disse Bartley. “Deram alguns disparos. Atingiram o quê?”
“Destruíram o chalé”.
Eu nunca tinha visto Bartley ficar emotiva, mas ela respirou fundo. Duas vezes.
“Vítimas?”, ela perguntou.
“Não parei para contar”.
“Bom seria matar eles todos”. Não era um julgamento, e sim uma preocupação estratégica.
“Como?”
“Botei minas no túnel uns anos atrás.”
“O quê?”, perguntei alto demais, trocando o murmúrio por um sussurro por um momento.
“Não contei a ninguém, achei que as pessoas iam ficar bravas. E achei que a assembleia geral não ia aprovar.”
“Quão perto precisa estar para detonar?”, perguntei.
“Perto”, disse Bartley. “Muito perto. Tem um compensado podre na parede sul, uns três metros para dentro do túnel. Atrás eu coloquei uma caixa velha de disjuntores. Tem que ativar os três primeiros e os três últimos, aí temos dois minutos para correr”.
“Isso vai detonar o armamento no trem?”
“Provavelmente não.”
“Como chegar lá?”
“Eu tenho uma ideia”.
“Eu não vou gostar, né?” Eu perguntei.
“Não”.
“Estou aqui para negociar nossa rendição”.
As palavras eram estrangeiras na minha garganta e pairavam estranhamente no ar. Não eram palavras minhas. Não eram palavras que eu realmente sabia como dizer, mas eu as disse em voz alta e atraí a ira de várias mulheres e homens armados. Mulheres e homens que eu esperava que não reagissem muito imediata e violentamente ao rifle que eu ainda carregava nas costas.
A neblina estava mais fina na base do túnel, e fiquei mais calma podendo ver as silhuetas cônicas das árvores e o parco brilho das estrelas acima de mim.
Dois vagões de plataforma se estendiam do túnel, cada um com uma arma do velho mundo, maior que algumas casas. Dentro do túnel, uma fileira de vagões se estendia mais longe do que eu conseguia ver.
Meia dúzia de pessoas se aproximaram de mim, a maioria não mais velha do que o garoto que eu tinha atirado do penhasco. Eu gostava de pensar que sabia diferenciar os maus dos desesperados, e essas pessoas não estavam desesperadas, não à primeira vista. Cada um tinha um rifle apontado para mim, e me observava com uma mistura de indiferença e malícia. O mal não é algo que fazemos uns com os outros, é a maneira como o fazemos, é o porquê de o fazermos.
Havia duas claras autoridades — um homem cerca de dez anos mais velho que eu, com grisalho salpicado em seu cabelo ruivo, e uma mulher com pelo menos vinte anos a mais que ele. Os dois conversaram brevemente, e o homem se aproximou.
“General Samuel John”, ele disse. Ele não ofereceu sua mão.
“Aiden Jackson”, eu disse. Eu não ofereci minha mão.
“Nossos termos são simples”, o general disse. “Qualquer um que sair entre agora e meio-dia de amanhã não será caçado e morto.”
“Quem é você?”, eu perguntei. “General de qual exército?”
“A Nova República de Washington”, ele disse.
Outro senhor da guerra.
“Por qual motivo você entende que a nossa terra é sua?”, eu perguntei.
Eu sabia o que ele ia dizer. Fiquei mais confiante de que o conhecia, de que eu poderia enganá-lo, ou atirar melhor que ele.
“Pequenas propriedades como a sua e o resto do ‘novo mundo’ são uma relíquia de uma era que pretendemos deixar para trás”, ele disse, bem como o esperado. “Washington já passou tempo demais sem uma autoridade central”.
Mentir para as pessoas é divertido. É até perigoso o quão divertido é. “Você está certíssimo”, eu disse.
“Nós vamos até o fim da linha com esse trem, devastando tudo em nosso caminho, e nosso salvador se erguerá das águas costeiras.”
Isso não era esperado.
“Construiremos novas cidades”, disse o general. Seus olhos se reviraram, e ele segurou as palmas das mãos viradas para cima na frente dele. “Cidades puras, construídas de luz e mana, e viveremos em sua graça”.
“Até os zumbis chegarem”, a mulher mais velha adicionou.
“Até os zumbis chegarem e devorarem quem ainda estiver nas cidades”.
Olhei ao redor, de bandido a bandido. Cada um tinha um sorrisinho na cara.
“Vocês estão de sacanagem”.
“É claro que sim”, disse o general. “Não estamos aqui por moralidade ou religião. Nós temos artilharia e queremos a passagem para cobrar impostos de caravanas, e se vocês tentarem nos impedir vamos matar vocês. Esse é o mundo agora, assim como sempre foi. É um mundo bom para pessoas como eu e os meus, e é o único critério de bem que existe para mim”.
“A gente ia só cobrar impostos de vocês, sabia”, disse a mulher. “Um pouquinho de fogo, mostrar um pouquinho do que a gente é capaz, e aí a gente ia taxar vocês. Mas aí eu ouvi você atirar no meu neto”.
Todos os olhos e todas as armas estavam voltados para mim, e isso era o que eu queria – dentro de uma certa e bem limitada definição da palavra “queria”. Eu os tinha atraído para longe da boca do túnel. Atrás dos bandidões cheios de si, na névoa fina, Bartley rastejava como um lagarto em direção ao detonador.
Eu não queria mais mentir.
“Vocês vão ter o que merecem”, eu disse. “Sempre teve gente que quer poder sobre os outros, e sempre teve gente que não quer. Toda a história do mundo é a história de gente que nem vocês matando gente que nem eu, e de gente que nem eu matando gente que nem vocês. Vocês vão viver uma vida miserável de merda, sem poder confiar em ninguém, cheia de medo, e aí vão ter o que merecem. Eu vou ter o que eu mereço também, no final, a mesma coisa que vocês, mas eu vou ter vivido uma vida em uma sociedade de iguais, entre pessoas que eu amo. Eu vou ter amado eles”.
“Ei!” Um dos bandidos, um homem jovem, se virou a tempo de ver Bartley entrando no túnel. Ele levantou seu rifle e atirou na minha amiga.
Eu me virei e corri morro acima, perpendicular à entrada do túnel. Sempre corra morro acima – ninguém gosta de perseguir ninguém morro acima.
Consegui me esconder atrás de um toco grosso vinte metros acima de onde eles estavam, e balas se encrustaram na carne já morta há décadas da árvore. Peguei e destravei meu rifle para atirar de volta.
Bartley também conseguiu cobertura, no outro lado do trem.
Eles poderiam me encurralar ali, me flanquear, e meter uma bala em mim, para depois se preocupar com Bartley. Eu tinha dois cartuchos extras, uma amiga, e nenhuma esperança de reforço. Eu não tinha nenhuma esperança.
Eu não devia ter sido cruel com o Khalil. O homem tinha deixado sua família, deixado a segurança e a estabilidade da Ilha de Bainbridge, para me seguir montanha adentro até o limiar do novo mundo. Ele tinha seguido seus sonhos.
Nos conhecemos no inverno. Todo inverno desde o primeiro, costumávamos andar ao longo do Rio Verde até sua fonte. Tirávamos uma semana para fazer isso, sessenta quilômetros ida e volta, segurando a mão um do outro e encarando a imensidão do céu e acampando na neve e andando no gelo. Nunca teríamos a chance de fazer isso de novo.
Ele se preocupava comigo. Ele tinha razão de se preocupar. Eu estava prestes a morrer.
Bartley chamou minha atenção, e então começou a bater no aço do trem com a coronha do rifle. Isso tirou todos os olhares de cima de mim, e eles tinham saído da cobertura para tentar me flanquear. Eu me agachei, mirei, e cravei uma bala na bochecha do general. Sua cabeça girou, seu pescoço se partiu, e suas pernas se deram por vencidas.
Os bandidos se afastaram de Bartley, e ela se levantou e atirou na mulher mais velha — a segunda em comando, talvez, ou talvez só a mãe do general. De qualquer forma, ela caiu com um buraco no esterno.
Uma bala me atingiu de raspão. Queimou meu ombro; o sangue jorrou.
“Fiquem pra proteger o trem!”, gritou uma das mulheres restantes para dentro do túnel. Os quatro artilheiros restantes voltaram para se proteger, agachados perto das rodas do trem.
Bartley correu, passou pelo trem e foi na direção das árvores. Ela atraiu tiros, mas não de todos os rifles. Respirei fundo duas vezes, deixei o oxigênio me encher, então rolei para fora da cobertura. Eu tinha aprendido há muito tempo a não me preocupar com tiros individuais depois de decidir o que eu tinha que fazer. O medo é a antítese da ação.
Ouvi um grito, o grito de uma mulher, e corri pelo barranco e entrei na escuridão do túnel. Lá estava o compensado. Atrás dele, a caixa do disjuntor. Estava escuro demais para ver qualquer coisa, mas tateei até encontrar os os disjuntores, e tentei não focar nos clarões de bala vindo de fora e de dentro do túnel.
Balas são perigosas. Sei muito bem disso. Mas a maioria das balas não é mirada de verdade, e balas não miradas são como raios num campo. Se você ficar abaixada, é provável que sobreviva.
Ativei os seis disjuntores.
Dois dos artilheiros do outro lado tinham cruzado os trilhos, e eu vi suas botas enquanto eles desciam para o outro lado do trem. Eu ficaria flanqueada.
Rolei para baixo do trem e atirei nas botas. Acertei uma, fui recompensada com um homem caindo de bruços, atirei na têmpora dele.
Eu rastejei, meus antebraços nos nós e no cascalho, o ferimento no meu ombro começando a protestar.
Eu atirei em outra mulher no pé, e os dois bandidos restantes do lado de fora caíram sem que eu atirasse — Bartley estava viva.
Eu estava quase na boca do túnel quando as cargas explodiram, e apenas o gigante de aço acima de mim me salvou da cascata de pedras que se seguiu. Não adiantava pensar nas vidas que estavam prestes a acabar, sufocadas na escuridão atrás de mim. Não adiantava ficar pensando se eu era má ou não.
Na poeira e na névoa, rastejei para frente, em direção ao fraco luar.
Bartley tinha um buraco na perna, onde antes havia músculo, gordura e pele, e eu a coloquei no carrinho com um torniquete na coxa. Dizem que você não deveria usar um torniquete por mais do que alguns minutos, mas eu aprendi na base de muito sangue que você pode se safar com um por mais tempo se precisar.
“Ei, me faz um favor”, ela disse, quando comecei a pedalar.
“Qual?”
“Não me deixa morrer”, ela disse.
“Só isso?”, perguntei.
“Só isso. Não me deixa morrer”.
“Você não vai morrer”.
“OK, mais um favor, por favor”.
“Qual?”
“Não me deixa morrer. Eu não quero morrer!”
Pedalei com mais força. Era morro abaixo, tranquilo, e entrávamos e saíamos das névoas, com Bartley ganhando e perdendo vontade de falar, entrando e saindo de um estado em que ela parecia que ia sobreviver. Eu só conseguia pensar em Khalil. Em como eu tivera certeza que ia morrer, que eu nunca ia vê-lo de novo. Foi uma longa meia hora até chegarmos às ruínas do Chalé da Passagem.
Três pessoas nos encontraram no portão, incluindo a mulher que havia vindo para a colheita, a que dançara com Khalil. Ela me ajudou a carregar Bartley para a enfermaria improvisada na estrada, qualquer constrangimento entre nós desaparecendo diante de questões mais urgentes. O doutor disse à Bartley que ela não iria morrer.
Falei rapidamente o que aconteceu, e as notícias se espalharam rápido.
Khalil não estava por perto, e um medo me atacou, um medo pior que tiro cruzado. Ele estava bem, eu vi ele escapar do chalé, eu sabia que ele estava bem. Mas ele não estava bem comigo.
Eu o conheci quando nós dois estávamos visitando Tacoma, numa época de morte, quando nenhum de nós achava que viveríamos até os vinte. Eu o amei metade da minha vida, a metade que importava.
Desci os degraus de concreto até o abrigo antiaéreo. Estava cheio de pessoas, e elas estavam feridas e assustadas e queriam falar comigo, mas todas tinham a distinta desvantagem de não serem Khalil.
Fui até o chalé, o que restava do salão que construímos. Havia pessoas que não eram Khalil vasculhando os escombros fumegantes, escorando as paredes que sobreviveram, cavando em busca de sobreviventes e cadáveres.
Fui até os restos da ponte que antigamente, no velho mundo, cruzava o Rio Verde. Mas não havia ninguém lá para me beijar nas sombras das ruínas, ninguém vagando no rio com a mão na curva das minhas costas, ninguém cantando em tons doces e graves. Estava pensando em entrar no rio mesmo assim, até que a água encostou em mim. O rio na primavera é frio como a neve.
Fui até os campos e o encontrei no canto nordeste — o canto que víamos da nossa cama com dossel. Suas mãos varriam as folhas. Ele estava fazendo uma serenata sem letra para o chá.
“Khalil”.
Ele me ouviu, já que seu corpo ficou tenso e ele pausou a canção, mas não se virou.
“Khalil, eu sinto muito”.
“Pelo quê?” Ele estava longe o bastante para eu mal conseguir ouvi-lo.
“Por muitas coisas”.
“Você faz o que tem que fazer”.
Uma brisa veio do rio por entre os campos, sussurrando contra as lágrimas em minhas bochechas, e manter minha voz intacta foi mais difícil que permanecer viva uma hora antes.
“Eu não quero só fazer o que eu faço”, eu falei.
Ele se virou para mim e estava chorando mais que eu. Ele sempre chora mais que eu.
“Está tudo bem se você se preocupa comigo”, eu disse.
“Você fugiu essa noite”, ele disse. Ele não tentou disfarçar a dor em sua voz. “Você foi sozinha. Talvez é demais para mim, que você não esteja aqui quando eu precise de você, que você nunca está segura. Que você corre riscos burros”.
Encurtei a distância entre nós, e ele ficou só um pouco além do meu alcance.
“Eu ia morrer hoje à noite”, eu disse. Sentei no chão, abraçando meus joelhos. “Eu ia morrer e eu nunca mais ia ver você de novo, e agora eu sobrevivi mas e se eu nunca mais ficar com você de novo?”
Ele se sentou à minha frente, espelhando minha pose.
“Você nunca fala comigo”, ele disse.
“Eu sei”.
“Por que você nunca fala comigo?”
“Tenho medo”, eu disse. Mas disse baixinho demais.
“Quê?”
“Tenho medo”, eu disse, mais alto. “Tenho medo. Tenho medo de você e tenho medo de nós e tenho medo desse mundo novo que a gente construiu, que logo não vai ter um lugar para mim aqui, para tudo que eu fiz e tudo que eu sou. Eu tenho medo de tudo que não é inverno e tenho medo de qualquer coisa menos morrer”.
Meus olhos estavam fechados, e eu não conseguia vê-lo, nem ouvi-lo, e tudo que eu ouvia era o meu coração batendo fora de compasso. Por um minuto, ao menos, foi tudo que eu ouvi.
Eu não vi ele se mover, mas seus braços me embalaram por completo. Ele me abraçou. Eu me deixei ser abraçada. Ele beijou a minha cabeça, e eu me aninhei em seu pescoço.
“Você faz o que tem que fazer”, ele disse, “e eu te amo por isso”.
“Me ama? Toda burra? Toda coberta em sangue?”
“Te amo”, ele disse.
Sua mão acariciou meu cabelo, e ele me segurou em seus braços como costumava fazer antigamente. Como se me quisesse. Puxei seu rosto contra o meu pela barba, senti sua boca na minha. Suas mãos chegaram aos meus quadris, e meus dedos buscaram seu peito.
A fumaça flutuava para longe das ruínas do nosso lar, e o amor era algo que me pegava fundo, e me fazia querer viver.