Este ano participei do 10º encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, em Belo Horizonte, apresentando um pôster em co-autoria com minha amiga Maria Teresa sobre congruência política. Numa série razoavelmente curta de posts falarei um pouco sobre as ideias com as quais tive contato – devo dizer que uma proporção mínima do que realmente aconteceu, já que o evento é enorme e tinha dezenas de debates simultâneos acontecendo a todo momento!
O que realmente acontece num encontro acadêmico
Na manhã da sexta fui ao “Participação política em múltiplos espaços: avaliando possibilidades e limites”, mesa debatida pela Vera Schattan Pereira Coelho. Antes de falar sobre o que ouvi ali, um aposto:
Aqueles comentários que fiz na terceira parte dessa série de posts, sobre a apresentação de San Romanelli, eu só as escrevi aqui – não falei diretamente para ela porque eu já tinha feito comentários para o Diogo e para o Renato, e a Raquel (coordenadora) estava implorando para sermos sucintos nas perguntas.
Eu não fiquei particularmente triste com isso – na hora. Eu tremo ao fazer perguntas, não necessariamente por causa da pressão de falar em público ou de falar com uma “personalidade” da área, mas porque fico pensando o tempo todo que os outros estão achando as minhas perguntas um saco e que estão querendo que eu cale logo a boca. Sendo assim, eu realmente não quero monopolizar a discussão e ser mal visto pelos meus pares. Mas depois vai ficando cada vez mais irritante o fato de você se esforçar para fazer a sua reflexão caber em dez segundos, quando o próximo na fila se alonga por três minutos. Você percebe que ele nem está apressado – o mínimo; não, ele vai devagar, diz um monte de “sem falar que também…”, etc.
Quase todo mundo que começa algum falatório com “bem rapidinho, só queria…” – não; todo acadêmico acha que consegue ser super rápido e sintético. E quase nunca é. Eu tive uma experiência desastrosa nos segundo e terceiro semestres da graduação (teve grupo que teve que apresentar seminário em outro dia por causa do meu, etc) e isso me deixou super consciente quanto à questão do tempo; me fez achar simplesmente desrespeitoso com todos não cumpri-lo (sério, minha apresentação demorou mais de duas horas). Dá ou não dá vontade de atropelar com um elefante quem, depois de pedirem por agilidade nas perguntas, pega o microfone pra falar por dois minutos e no fim diz que não tinha pergunta? Que “só queria agradecer a mesa, mesmo”? Nesse caso até levantei e saí da sala.

 Agradece BATENDO PALMA, PORRA
Agradece BATENDO PALMA, PORRADepois, refleti: há toda uma dinâmica de poder nesses eventos. Quer dizer, não é bem uma dinâmica de poder – é um viés, e um bem razoável. Ninguém ia interromper ou reclamar da tal mulher que não queria fazer perguntas porque, bem, ou ela era a big deal naquela área de estudos ou era uma coordenadora da mesa, algo assim. O Bernardo, por exemplo, coordenador da área de teoria política, na última mesa de sexta chegou a retomar a palavra pra fazer mais uma ou duas perguntas – coisa que ninguém repreendeu; pelo contrário, riram-se todos. Já quando Diogo respondeu à minha pergunta na sessão de quinta, falei pra ele, da platéia mesmo: “até porque, né, Diogo, em tese amigo a gente escolhe, irmão não!”; 12 palavras em cinco segundos e eu já sentia mãos em volta do meu pescoço. Na sessão de sexta, inclusive, que o Bernardo fez as (ótimas, aliás) perguntas a mais, o Luis Felipe Miguel nem tinha me incluído na lista de questionadores após meu efusivo, pioneiro e hermionesco levantar de mão (hashtag chateado). Foi por maldade? Claro que não. Ele simplesmente não sabia o meu nome; os outros, que faziam perguntas, de certo foram a vinte congressos de ciência política (e bares subsequentes) com ele. Mas o efeito é o mesmo: tive que explicitamente dizer que eu também queria perguntar, ou seria ignorado.
Essa desconfiança toda desaguou numa grande iluminação espiritual que me veio à medida que eu ouvia as perguntas do resto do pessoal (naquela sessão do Miguel e do Bernardo). Enquanto eu ouvia alguém (da platéia) falar sobre um autor tal e tal, pensei: “cara, eu não tô nem aí pra essa pergunta”. E a grande verdade é que o universo das ciências sociais é gigante e nessas apresentações você tem uma diversidade já relativamente alta na própria mesa. Quando vai pra platéia, cada um dos ouvintes faz relações diferentes daquilo que ouviu com as coisas, os temas e os autores que estudam. E os que desejam falar vão tornar isso evidentes. Tirando algumas perguntas compartilhadas (quando perguntei ao Diogo sobre o negócio da fraternidade, ouvi uma mulher à minha frente dizer “isso, isso mesmo!”) e que se referem verdadeiramente ao texto que foi apresentado, a maioria das coisas que a platéia quer dizer são coisas de fora do texto (como todos os meus insistentes comentários sobre o anarquismo), altamente contextuais e que, portanto, pouco vão interessar aos outros.
Isso é estranhamente relaxante, acho. E libertador. E prático, também, porque é muito provável que os autores dos textos tenham pouco a dizer sobre essas perguntas apontadas para o que não está no texto. Assim, várias perguntas bem elaboradas podem atiçar a imaginação de alguns, contribuem para expansões e pesquisas futuras dos autores, e limitam o tempo de resposta dos próprios autores. Isso só é chato quando, no caso do Diogo e da San, por exemplo, adoraríamos ter visto alguma briga intelectual mais desenvolvida entre os que estão na mesa.
Na vanguarda da democracia
Bom, voltando à mesa: Lavalle fez uma apresentação bem técnica quanto à conexão entre instituições participativas (IPs) em várias cidades do Brasil (dele ouvi uma coisa fascinante: em geral, instituições participativas demoram de 9 a 11 anos, dependendo da cidade, para que tomem mais decisões práticas que decisões de autorregulação. Em outras palavras, passam 10 anos combinando como vão funcionar, para só a partir daí começar a funcionar mesmo). Roberto fez uma apresentação pessimista, ressaltando o quanto as tais IPs retrocederam nos últimos anos. Já Ricardo Mendonça, da UFMG (que vi duas vezes na sexta-feira, sempre fazendo boas apresentações) apresentou um estudo sobre as “jornadas” de junho de 2013 (nome que ele disse duas vezes usar de propósito, mas não entendi bem a qual crítica ele estava resistindo). Em geral, as manifestações eram um pano de fundo para ele discutir uma espécie de junção teórica entre agonismo e deliberacionismo – ou, no caso, defendendo um deliberacionismo que não dependesse de alguma noção de “consenso”.


As considerações que eu ia fazer para ele (mas fui embora) eram as seguintes: em primeiro lugar, o que se entende por consenso? Novamente, aqui, essa ideia de consenso como unanimidade pode ser retirada do dicionário, mas considero esse um conceito disputado. De qualquer forma, uma outra pessoa comentou que o problema está na tradução de Habermas, que nunca quis dizer “consenso”, e sim uma “compreensão mútua”, a nível racional, dos indivíduos envolvidos na deliberação.
Como ele afirmou durante a apresentação que houve alguma “responsividade” em relação às jornadas de junho, eu faria uma conexão com o que Ivo Coser apresentou na quinta (sua distinção entre ocupar e vigiar o poder), retomando a adição que fiz em relação a ignorar o poder. Existe uma diferença entre obter responsividade e querer responsividade, e embora em parte algumas coisas fossem de fato desejadas – como a diminuição do preço da passagem de ônibus – outras vieram com muita fraqueza. Ele disse, por exemplo, que as jornadas revitalizaram o debate pela reforma política. Eu só gostaria de perguntar para ele quando é que o Brasil não discutiu reforma política em toda sua história republicana recente.
Mas o principal mesmo é que ele pareceu indicar que houve uma dimensão deliberacionista (mas ao mesmo tempo agonista à medida que havia presença de um conflito que, no fim, mostrou-se saudável) mesmo nos resultados do movimento. Lembrando um pouco da questão “interinstitucional” do Francisquini, me pareceu que o elemento “deliberacional” das jornadas levou os políticos a reagirem, o que foi positivo. Eu queria perguntar para ele se ele não achava que uma “violência potencial” não lhe parecia no mínimo igualmente responsável por qualquer resposta que o sistema político tenha evacuado em relação a junho de 2013. Porque ficou parecendo que os políticos, seres racionais e bondosos, resolveram ter a simpatia de ouvir a população.


À tarde eu queria muito ver duas sessões que ocorriam ao mesmo tempo: a “Protestos, movimentos sociais e democracia”, debatida pela professora da UFSC Lígia Helena Hahn Lüchmann, e a “Violência, poder e institucionalidade: perspectivas teóricas”, debatida pelo Luis Felipe Miguel. O que eu fiz foi fatiá-las; vi três da primeira sessão, que eu realmente queria ver, e saí para pegar as duas últimas da segunda, que considerei as mais interessantes para mim. Vou falar primeiro da primeira sessão.
O Ricardo Mendonça falou sobre a compreensão da democracia entre manifestantes das jornadas de junho. Foram feitas entrevistas em profundidade, em SP e MG, depois de um survey mais amplo executado em dias de particular agitação. Uma coisa que me chamou atenção foi que as preocupações com as regras (o procedimento) diminuiu; elas são, agora mais que nunca, consideradas ineficientes. Ricardo até brincou que os pesquisadores que sempre gostaram da participação e da deliberação agora se veem defendendo as regras da forma de governo democrática – a importância das eleições e da representação, por exemplo.


Márcio Grijó fez uma apresentação semelhante, mas ele falou várias coisas interessantes tão rápido que não consegui anotar nada – só anotei mesmo que precisava baixar o texto dele, se possível, para reler aquilo. Uma coisa que ele mencionou é que as pessoas desejam bons governantes, não creem que eles existirão no futuro próximo, e de qualquer forma não querem os “custos de vigilância” – ou seja, o investimento cognitivo e de tempo em termos de informação sobre política, fiscalização dos eleitos, etc. Só comento que isso não deve (e o autor não o fez, mas mesmo assim) ser usado como alguma espécie de dado que “comprova” uma “natureza humana” em que as pessoas simplesmente não foram feitas para a liberdade política. Esperar de pessoas desiludidas com a política institucional, em meio à vida embrutecedora que o trabalho capitalista lhes impõe, que se envolvam profundamente com a política ou que queiram fazê-lo… Seria esperar demais, é claro!
Mas incrível mesmo foi o trabalho de Francisco Mata Machado Tavares e Ellen Ribeiro Veloso. Tenho que tirar meu chapéu para eles; embora pelo tempo reduzido eles não discutiram muito os resultados, o que eles falaram sobre a base teórica dos movimentos sociais foi interessantíssimo (que, por exemplo, os trabalhos dos cientistas sociais sobre eles é idêntico a relatórios policiais, de inteligência, de espionagem). Além disso, eles são bacharéis em direito e atuaram como advogados dos alunos secundaristas que ocuparam escolas em Goiânia em 2015. Foi uma apresentação realmente enriquecedora.
Alguns colegas republicanos meus (nomeadamente, meu orientador) creem que o republicanismo será a teoria política abrangente do século XXI. Eu não duvido, em se tratando de academia. Mas acho que será a teoria política da elite – porque em todo lugar do mundo em que há movimentos populares, mais e mais eles se aproximam a princípios basilares do anarquismo. Ele pode não surgir com esse nome, mas não tem problema nenhum. O que vale é o conteúdo, não o rótulo.
A violência na política
Como a primeira a falar na sessão de que falei acima não veio, o tempo contribuiu para que eu mudasse de sala e não só visse as duas apresentações que pretendia ver como também visse a da minha colega de UFSC, Karen Elena Costa Dal Castel, doutoranda que falou sobre Maquiavel e Chantal Mouffe.
O engraçado é que eu não achei que essa apresentação ia ser muito relevante pra mim; simplesmente não me interessei o bastante por seu título para achar que eu tinha que estar lá para ouvi-la. No entanto, assim que cheguei, viajei no que a Karen estava falando e comecei a rabiscar várias anotações. A explosão de sinapses me levou a algumas considerações preliminares; coisas a quais certamente voltarei mais tarde.
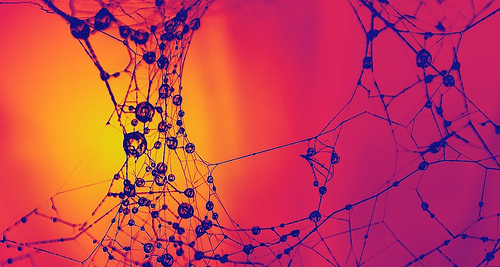

Para Maquiavel (apud Karen, se bem entendi) a igualdade vem do conflito entre diferenças, conflito este que cria as leis (o que me lembrou imediatamente da necessidade de império dos liberais). A liberdade existe enquanto o povo continuar querendo (apenas) não ser dominado e a elite continuar não dominando-os, apesar das pulsões da elite em fazê-lo (nessa parte confesso que posso ter me confundido ao ouvi-la, mas acho que é isso). A crítica anarquista clássica – e acho que é por isso que eu viajei nessas ideias; eu tinha acabado de ler um pouco do compêndio de Woodcock – é a de que eles sempre vão querer dominar se houver as condições institucionais para tal; os “cargos” que são por definição, por função, para “dominadores”. Para Bakunin, isso se trata de uma questão de perspectiva; o poder corrompe, e portanto os poderosos terão sempre a perspectiva do poder, que causa a dominação. Para mim, tem a ver também com expectativas sobre os poderosos. Se a lei serve para nivelar, para tratar igual, e se o poder existe para mantê-la à base da espada se necessário, então um povo que subscreve a essas ideias cobra do poder que haja alguma dominação, alguma violência, algum uso do poder – o ensaio “Shooting an elephant”, de George Orwell, é magnífico para falar sobre isso.
Na crítica anarquista contemporânea, por outro lado, encontro as instituições de contrapoder de um Graeber ou Negri – este último, inclusive, justamente criticado por Ricardo Silva por ver em Maquiavel uma aprovação disso. Contudo, acho que da perspectiva de que a liberdade viria das instituições de contrapoder, Maquiavel realmente entendeu bem essa dinâmica – o povo não quer ser dominado. A diferença (e aqui concordo com o Ricardo Silva) Maquiavel não acreditava (ao menos textualmente) na possibilidade de não haver uma elite governante, ou instituições de poder. A vontade de não ser dominado era passiva; uma força que irrompia em momentos de dominação para reclamar um estado de não-dominação (ou, o que era péssimo para Maquiavel, se transformava na vontade do povo de dominar – e aí vinha a barbárie). Mas uma vontade ativa de não ser dominado geraria atitudes, instituições, organizações que visariam evitar a consolidação de, digamos, um Estado. Falemos das sociedades estudadas por Clastres, por exemplos. E é claro que aqueles que desejam dominar não deixariam de existir sempre; como disse o antropólogo anarquista, toda sociedade está em guerra consigo mesma.
De qualquer modo, arranjei isso rapidamente nos minutos em que ouvia a Karen falar. Depois foi a vez do Pedro H. V. B. C. Branco (para encurtar seus muitos sobrenomes). Ele falou de forma exploratória sobre o tema da violência – como ela foi relegada ao segundo plano da teoria política contemporânea (cof cof deliberacionistas cof cof); como o fundo violento do homem racional foi escamoteado. Ele falou de Arendt, da banalidade do mal, da violência como técnica; da dimensão simbólica da violência; da distinção entre poder e violência, entre vigor e violência, entre terror e violência (muito brevemente); entre violência e guerra. Falou também sobre o nosso contexto contemporâneo, em que várias circunstâncias tornaram difícil a concepção clara quanto ao difuso e sempre presente “inimigo”.
Acabei fazendo para ele o comentário que queria ter feito ao Ricardo Mendonça sobre a violência potencial como fundo de muito que se passa por política pacífica no mundo contemporâneo. Comentei também algo que ele disse sobre Arendt e a banalidade do mal – que era inovador encontrar o violento que não fosse a encarnação do mal, mas simplesmente alguém que estava cumprindo ordens. Ora, falei, isso não é novidade nenhuma para anarquistas, que haviam entendido o monopólio da violência do Estado como razão para rejeitá-lo. Mas, acima de tudo (especialmente porque peguei seu e-mail e pude fazê-lo adequadamente), sugeri que ele desse uma olhada no texto “Bullying: sobre a estrutura fundamental da dominação“, do Graeber, em que ele basicamente diz que ao invés de sermos uma espécie particularmente belicosa, somos na verdade bastante ruins em reagir à agressão. Quanta diferença em relação ao Freud que apareceu na próxima apresentação, a de Marcelo Gantus Jasmin; o Freud da pulsão violenta irresistível calcada no inconsciente.

 “Oh, fuck Freud, man”
“Oh, fuck Freud, man”Mas o legal mesmo ficou na resposta de Ricardo Silva às questões que lhe foram dirigidas. Eu não peguei sua apresentação, e realmente não era necessária porque foi basicamente um desdobramento de um argumento que eu já o ouvi fazer em mais de quinze minutos numa reunião do NEPP. De qualquer modo, Luis Felipe Miguel perguntou se ele não estava ignorando demais o lado “black block” do Maquiavel. Outra pessoa (talvez o coordenador Bernardo), questionou como, afinal, se mudavam instituições corruptas.
A resposta do Ricardo me foi profundamente insatisfatória. Em primeiro lugar ele citou uma passagem de Maquiavel em que o italiano conta como a plebe pegou um pessoal da elite corrupta, pendurou-o de cabeça para baixo na praça e foi comendo ele (não sexualmente falando) de pedacinho em pedacinho. Eu fui obrigado a corrigi-lo, lembrando que a tática Black Block não tem e nunca teve nada a ver com matar pessoas – ao que outra pessoa na mesa veio com uma de que eles “indiretamente mataram”. How precious! Me pergunto se usaram alguma máquina de Rube Goldberg no assassinato ou coisa parecida.
De qualquer forma, Ricardo foi taxativo: para transformar uma república corrupta, deve-se seguir as leis… A não ser que ela seja muito corrupta, e aí nesse caso a violência torna-se legítima. Bom, mas como é que se decide se o nível de corrupção já está alto o bastante para justificar a violência do povo contra a oligarquia? Não seria o maior esforço de um governo corrupto fazer tudo a seu alcance para criar uma imagem de legitimidade? O próprio Dahl não argumentou que é impossível provar que o jogo democrático é um jogo de cartas marcadas? Em suma, se esse for o parâmetro para avaliar a legitimidade da ação violenta em busca da liberdade, ele se quebra em dois no momento em que passa a vigorar. O que sobra é o fato de que os vencedores escrevem a história, justificam as ações violentas do passado a partir de um certo limiar de alta corrupção que os governantes anteriores teriam cruzado, e a posteridade interpreta esse enquadramento at face value. Acho que tem algo que não fecha aí.
O kebab e o fim da linha
No último dia de minha estadia em BH, comi um “kebab” no shopping, cedi à tentação de levar mais um livro da feira por 4,90, e comecei a escrever esta série de posts que termina por aqui.
Esse encontro foi realmente incrível. Claro, praticamente pausar a vida por uma semana sempre acaba nos fodendo o cotidiano pelos dias vindouros, mas é realmente muito bom conhecer outros nerds da ciência política; novas ideias, novos olhares para velhas ideias… É oxigenante.
Espero que tenham gostado desse meu relato bastante subjetivo – e que ele possa ter servido, quem sabe, para vossas próprias reflexões. Se esse foi o caso, inclusive, considere comentar abaixo, ou nos posts relevantes da série, as suas impressões!
Algumas coisas que anotei para pesquisar ou ler mais tarde
A ideia de “Broken negotiations”, de Charles Tilly.
O livro “Estado de exceção escolar”, mencionado na apresentação sobre as ocupações dos secundaristas em Goiânia.
“O lugar, a representação e a figuração do poder no pensamento do político de Claude Lefort” – eu não consegui ver essa apresentação da Renata Schevisbiski nesta última mesa de sexta, porque foi a primeira. Mesmo assim, bastou uma questão da plateia para que eu tenha percebido que ela pode ser bem interessante.
“Dimensões democráticas nas Jornadas de Junho: reflexões sobre a compreensão de democracia entre manifestantes de 2013”, do Ricardo Mendonça.
‘”A Gente Ainda Nem Começou”: Repertórios de Confronto Político nas Escolas Ocupadas em Goiânia (2015)’, o trabalho do Francisco e da Ellen. Eles disseram que, por exemplo, na condição de advogados, eles conseguiram participar de reuniões a portas fechadas, coisas que enquanto meros pesquisadores jamais teriam acesso. Muito, muito interessante.
“Ativismo em rede e direito à moradia: lutas por redistribuição ou lutas por reconhecimento?”