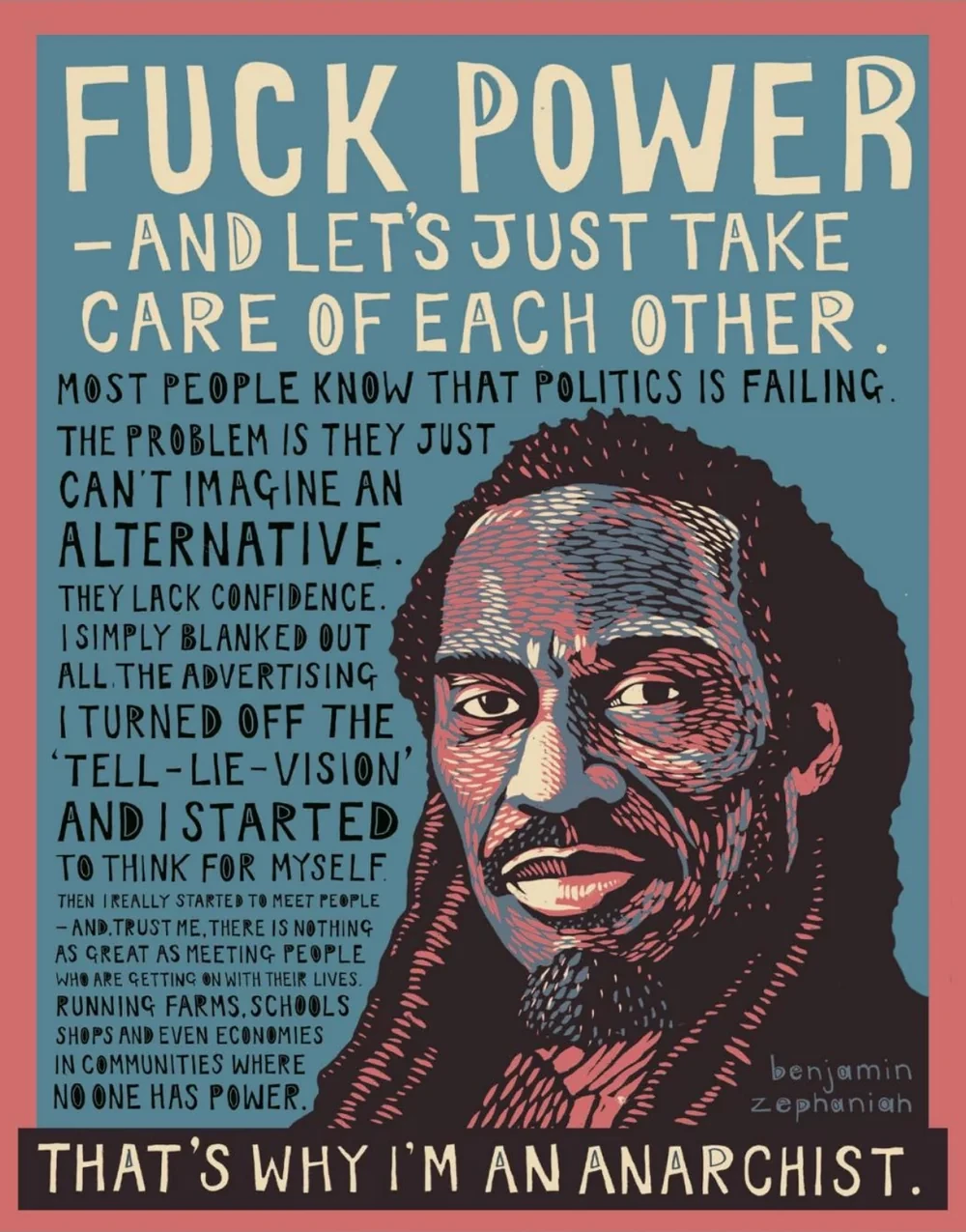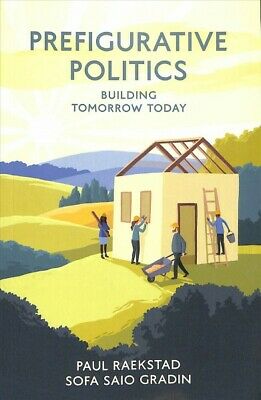Texto por Kim Tingley, originalmente publicado no New York Times em junho de 2020, traduzido semi-automaticamente com o auxílio do DeepL.
A última aula que Joel Sanders deu pessoalmente na Escola de Arquitectura de Yale, no dia 17 de Fevereiro, aconteceu na ala moderna da Galeria de Arte da Universidade de Yale, uma estrutura de tijolo, betão, vidro e aço que foi concebida por Louis Kahn. É amplamente aclamada como uma obra-prima. Uma parede longa, virada para a Rua Chapel, não tem janelas; virando a esquina, há uma parede curta que é só janelas. A contradição entre opacidade e transparência ilustra uma face da tensão fundamental dos museus, que por acaso foi o tema da palestra de Sanders nesse dia: Como pode um edifício guardar objetos preciosos e também exibi-los? Como mover massas de pessoas através de espaços finitos de modo a que nada – e ninguém – seja prejudicado?
Durante todo o semestre, Sanders, que é professor em Yale e também dirige o Joel Sanders Architect, um estúdio localizado em Manhattan, tinha pedido aos seus alunos que pensassem num desafio do século XXI para os museus: tornar as instalações que foram frequentemente construídas há décadas, se não séculos, mais inclusivas. Tinham realizado workshops com os funcionários da galeria para aprender como o emblemático edifício poderia satisfazer melhor as necessidades do que Sanders chama “corpos não conformes”. Com isto ele se refere a pessoas cuja idade, sexo, raça, religião ou capacidades físicas ou cognitivas as colocam frequentemente em desacordo com o ambiente construído, que é tipicamente concebido para pessoas que encarnam normas culturais dominantes. Na arquitetura ocidental, Sanders salienta que “normal” foi explicitamente definido – pelo antigo arquitecto romano Vitruvius, por exemplo, cujos conceitos inspiraram o “Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci, e, no tempo de Kahn, pelo “Homem Modulador” de Le Corbusier – como um homem branco jovem e alto.
Quando a crise do coronavírus levou Yale a fazer aulas online, o primeiro pensamento de Sanders foi: “Como você faz o conteúdo de sua classe parecer relevante durante uma pandemia global? Por que deveríamos estar falando de museus quando temos assuntos mais urgentes para falar”? Fora do campus, os ambientes construídos e a forma como as pessoas se moviam neles começaram a mudar imediata, indireta e desesperadamente. As mercearias ergueram escudos de plexiglass em frente aos registros e colocaram adesivos ou linhas adesivas no chão para criar um espaçamento de seis pés entre os clientes; como resultado, menos compradores cabem com segurança no interior e linhas serpentearam para fora da porta. As pessoas se tornaram hiper-conscientes em relação aos outros e às superfícies que poderiam ter que tocar. De repente, Sanders percebeu que todos tinham se tornado um “corpo não conforme”. E os lugares considerados essenciais tinham que decidir quão perto deixá-los chegar uns dos outros. O vírus não era simplesmente uma crise de saúde; era também um problema de design.
As tensões criadas por determinadas pessoas interagindo com determinados espaços tem sido há muito tempo um interesse de Sanders. “Eu amo coisas bonitas, mas não estou interessado na forma por si”, diz ele. “O que conta é a experiência humana e a interação humana, e como a forma facilita isso”.
O início de sua carreira coincidiu com a crise da AIDS em Nova York. Aquela época, quando, como homossexual, ele se sentia indesejado ou ameaçado em espaços públicos, informou seu ethos de design. Seu portfólio inclui residências com plantas abertas e flexíveis que permitem que as pessoas assumam diferentes papéis – uma área sentada poderia ser usada para trabalho ou lazer, digamos – e adotem arranjos familiares não tradicionais. Cerca de cinco anos atrás, quando a discussão sobre se as pessoas transgêneros deveriam ter o direito de usar banheiros públicos correspondentes à sua identidade de gênero se tornou notícia nacional, Sanders ficou impressionado com o fato de que “ninguém falava sobre isso do ponto de vista do design”, diz ele. “Todos presumiram e aceitaram banheiros segregados por sexo”. Como, ele se perguntava, teríamos acabado com os banheiros masculinos e femininos em primeiro lugar?
Enquanto trabalhava em um artigo com Susan Stryker, professora de estudos de gênero e mulheres na Universidade do Arizona, ele soube que o banho público tinha sido uma atividade coletiva em vários pontos da história; assim era a defecação, que, quando não acontecia na rua ou envolvia um vaso, às vezes acontecia em uma instalação comunitária separada. Somente com o advento da canalização interna e dos sistemas de saneamento municipal no século XIX é que os banhos e a eliminação começaram a se unir. Segundo o estudioso jurídico Terry Kogan, os primeiros banheiros internos que eram específicos para cada sexo e abertos ao público apareceram nos EUA em meados do século XIX, onde eram extensões de espaços de salão separados para homens e mulheres.
Segregar os banheiros por sexo claramente não era um imperativo biológico. Isso expressava os papéis sociais de homens e mulheres na época vitoriana. E se, perguntaram Sanders e Stryker, você em vez disso organizasse esse espaço em torno da atividade que estava sendo realizada e quanta privacidade ela exigia? O “banheiro” inteiro poderia ser uma área sem paredes ou portas, exceto em bancas privadas próximas às costas. Atividades que requerem menos privacidade, como lavagem das mãos, poderiam ser localizadas em uma zona central, abertamente visível. “Você poderia fazer do banheiro um espaço que não fosse uma sensação de perigo elevado, porque há uma porta fechada e alguém que não deveria estar lá está lá”, diz Stryker, que é transgênero.
Uma maior visibilidade, eles esperavam, tornaria os banheiros mais seguros para as mulheres transexuais, que correm maior risco de violência ali. Sanders também começou a encontrar outros para quem estes espaços significavam ansiedade constante por uma série de razões: usuários de cadeiras de rodas, aqueles que auxiliam pais idosos ou crianças pequenas, muçulmanos fazendo abluções, mulheres amamentando. Ele percebeu como sua própria perspectiva era limitada, assim como a dos clientes que ele normalmente consultava sobre seus projetos. “Você precisa ter a experiência viva do usuário final”, disse-me ele. “Isso é o que arquitetos como eu nunca foram treinados para fazer e nós não somos bons nisso”.
Em 2018, Sanders, Stryker e Kogan publicaram suas pesquisas e protótipos para banheiros multiusuário e multigêneros em um site como parte de uma iniciativa que eles chamaram de “Paralisados!” Na mesma época, Sanders formou um novo ramo de sua firma chamado MIXdesign para funcionar como um grupo de reflexão e consultoria. O objetivo era identificar aqueles cujas necessidades raramente foram consideradas na arquitetura – que poderiam até estar evitando espaços públicos – e colaborar com eles em recomendações que os projetistas poderiam usar para tornar os edifícios mais acolhedores para o maior número de pessoas possível.
O caos que o Covid-19 trouxe a lugares outrora familiares emprestou uma urgência a esta missão: A MIX poderia usar a abordagem que estava desenvolvendo para imaginar espaços não apenas para uma maior variedade de indivíduos, mas para uma realidade inteiramente nova?
A arquitetura tem que mediar entre as necessidades percebidas do momento versus as necessidades desconhecidas do futuro; entre as necessidades imediatas de nossos corpos e o desejo de criar algo que superará as gerações passadas. Na medida em que locais públicos começam a reabrir, as autoridades estão se esforçando para dar conselhos sobre como adaptá-los para uma pandemia. Em 6 de maio, o Instituto Americano de Arquitetos divulgou pela primeira vez orientações com o objetivo de “fornecer uma série de medidas gerais de mitigação a serem consideradas”, tais como mover atividades para fora e reconfigurar móveis para manter as pessoas mais distantes dentro de casa. É muito cedo para dizer como os arquitetos repensarão aspectos mais permanentes dos projetos em andamento. “Acho que há muitos prognósticos acontecendo”, diz Vishaan Chakrabarti, o fundador do escritório de arquitetura PAU e o novo reitor da Universidade da Califórnia, Berkeley, College of Environmental Design. Chakrabarti foi o diretor de planejamento para Manhattan na era Bloomberg depois do 11 de setembro. “Muitos dos prognósticos de então não envelheceram bem”, disse-me ele. “As pessoas disseram que nunca mais haveria arranha-céus e que as cidades estavam mortas”. Em vez disso, o que mudou foi o aumento da vigilância e da segurança.
Sanders e MIX têm uma série de comissões ativas que estão apenas começando a revisar para torná-las compatíveis com a Covid: Uma renovação do Clube SoCal, uma iniciativa de alcance da Fundação de Saúde Masculina em L.A. que busca envolver jovens gays e transexuais de cor no atendimento médico, está em andamento, empreendida com uma empresa local; uma possível remodelação da porta de entrada do Museu Queens está em fase preliminar.
Ao invés de responder com barreiras ou sinais temporários, Sanders está tentando usar o processo de pesquisa da MIX para chegar a projetos que minimizem a propagação do coronavírus e atraiam diversos usuários. Isto, ele espera, resultará em edifícios que perduram, quer uma vacina esteja ou não disponível. “O MIX está realmente liderando o caminho neste conjunto particular de questões”, disse-me Rosalie Genevro, diretora executiva da Architectural League of New York. “Há muitas pessoas rapidamente tentando pensar sobre o espaço na era Covid. O MIX tem o compromisso mais explícito que vi até agora para garantir que o pensamento seja o mais inclusivo possível”.
Logo após a fundação do MIX, Sanders abordou Eron Friedlaender, médica pediátrica de emergência médica no Hospital Infantil da Filadélfia. Do Museu Queens, Sanders soube que pessoas com autismo achavam o átrio principal – um espaço aberto e reverberante – especialmente perturbador. Friedlaender tem um filho adolescente com autismo, e ela estava procurando maneiras de tornar as instalações de saúde mais acessíveis a outras pessoas do espectro, que muitas vezes as acham avassaladoras. Como resultado, eles procuram serviços médicos com menos freqüência do que seus pares e ficam mais doentes quando aparecem. Quando o grupo MIX começou a falar sobre a pandemia, em uma chamada de vídeo, a sobreposição entre a ansiedade que todos sentiam nos espaços públicos e a ansiedade que as pessoas com autismo já sentiam nesses mesmos ambientes era marcante. E as conseqüências também foram semelhantes. Friedlaender observou que hospitais em todo o país, incluindo suas Urgências, tinham visto uma queda acentuada em seu número total de pacientes, que, eles acreditam, ainda estão passando pelos mesmos problemas de saúde, mas estão com muito medo de entrar.
O isolamento que as pessoas sofriam enquanto se abrigavam em casa também era familiar a ela, disse ela em uma reunião da MIX. As pessoas com autismo freqüentemente experimentam a solidão, em parte porque a proximidade com os outros tende a deixá-los desconfortáveis, o que muitas vezes as afasta de lugares com muita gente. De sua perspectiva, “você pode estar fisicamente distante” – mantendo o espaço entre os corpos, disse-me ela – “e mais engajado socialmente”.
Esse aparente paradoxo ressoou com Hansel Bauman, outro membro da MIX, por uma razão diferente, ele disse ao grupo. Como o antigo arquiteto do campus da Universidade Gallaudet, uma instituição para estudantes surdos com deficiências auditivas, ele precisava dobrar qualquer quantidade de espaço normalmente destinado a ouvir pessoas – para dar mais espaço entre os estudantes para que eles usassem a língua de sinais. Na Gallaudet, Bauman trabalhou com estudantes e professores para criar o DeafSpace, um conjunto de princípios de design que levava em conta suas necessidades; eles fizeram isso filmando corredores e refeitórios, por exemplo, e observando centenas de horas de interações lá. “Os cantos do mundo da audição”, disse ele, não são projetados “para antecipar visualmente o movimento dos outros”. O som comunica às pessoas ouvintes quando alguém está vindo – e no passado não importava tanto se elas não percebessem e esbarrassem umas nas outras. “No mundo Covid, você esbarra em alguém que vem virando a esquina sem máscara”, prosseguiu Bauman, “e de repente há uma infecção potencial”. As recomendações do DeafSpace muito provavelmente ajudariam: “Linhas estratégicas de visão; o uso da cor e da luz como meio de encontrar o caminho”. Promover um movimento mais eficiente e menos reativo era, disse ele, o tipo de coisa “com que temos lutado no DeafSpace nos últimos 15 anos”.
Parecia que o design que promove o distanciamento social pode realmente tornar os espaços mais hospitaleiros universalmente. Mas era mais difícil adivinhar qual poderia ser o efeito geral de outras acomodações Covid. “Uma coisa que tem sido interessante, pois cada vez mais artigos estão sendo escritos sobre a Covid – eles não querem mais secadores de mão”, observou Seb Choe, diretor associado da MIX, durante uma reunião de design no final de maio. “Porque os secadores sopram germes ao redor da sala”. O grupo havia acrescentado grandes janelas a um de seus protótipos para desinfetar superfícies com luz solar, mas Bauman apontou que o encandeamento dificultaria a visão recíproca das pessoas, tornando especialmente difícil a comunicação dos usuários surdos e fazendo com que todos se aproximassem potencialmente. Ele sugeriu acrescentar, entre outras coisas, uma saliência lá fora para a sombra.
Choe apontou uma notícia naquele dia que enfatizou novamente a orientação de que o vírus não é transmitido tão facilmente através do contato superficial quanto através do ar. Talvez o sol não fosse mais tão prioritário? De fato, na semana seguinte, em uma operação do Washington Post, Joseph Allen, o diretor do programa Edifícios Saudáveis da Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, pediu janelas abertas e melhor ventilação e sugeriu que 3 metros entre as pessoas seria melhor do que 6 metros.
“Este é o enigma”, disse Sanders. “Como você atira num alvo em movimento desse? Você não quer se prender numa decisão ruim”. E suponha que a forma como o coronavírus é transmitido poderia ser perfeitamente entendida e evitada – isso mudaria a hesitação que as pessoas sentem em andar de elevador juntas ou usar telas sensíveis ao toque? Os projetistas poderiam ter que conciliar a ciência estabelecida com o mal-estar persistente das pessoas.
Ajudar os clientes a articular como um projeto os faz sentir, e por quê, é notoriamente desafiador. “A maneira como os arquitetos conseguem que as pessoas nos digam o que pensam sobre um espaço é passeá-las pelo espaço e dizer: ‘O que você acha? Ou mostramos-lhes fotos”, disse-me Sanders. Ele queria envolver as pessoas com autismo em seu processo de projeto, em parte para aprender outras maneiras de colocar essas perguntas.
Em janeiro, juntamente com Bauman e Friedlaender, Sanders reuniu um grupo de especialistas, incluindo Magda Mostafa, uma arquiteta baseada no Cairo e a autora de “ASPECTOSS DO Autismo” [Autism ASPECTSS], um conjunto de diretrizes de design, para discutir formas de entender como as pessoas com autismo se sentem em relação ao seu ambiente. Em maio, eles se encontraram novamente, junto com pesquisadores do Centro de Autismo e Neurodiversidade do Hospital Universitário Jefferson na Filadélfia, para continuar essa discussão, enquanto consideravam como o coronavírus poderia impactar seu trabalho. “Minha preocupação”, disse Friedlaender, “é que as pessoas com autismo não sabem necessariamente como articular o que estão pensando”. Acho que não podemos depender apenas de suas palavras”.
O grupo começou a pensar em várias formas de engajar pessoas com autismo no processo de projeto. Talvez os participantes pudessem experimentar espaços usando a realidade virtual enquanto os pesquisadores monitoravam suas reações físicas. Sanders se perguntou em voz alta se esta também poderia ser uma maneira útil de trabalhar com outros grupos focais em designs que abordassem preocupações da pandemia. O Museu Queens estava planejando organizar uma dança para as pessoas de um centro de idosos para ver como regiam ao espaço; agora grandes reuniões são perigosas, e o museu está sendo transformado em um centro de distribuição de alimentos.
“Quando penso em um espaço que é bom em relação à covid, penso em um que pode ser fechado rapidamente”, disse ao grupo Joseph McCleery, um pesquisador de autismo da Universidade St. Joseph. “Você tem coisas que estão disponíveis que talvez estejam no porão, mas que podem ser retiradas rapidamente”.
“Flexibilidade e agilidade do espaço, mas também compartimentação do espaço”, disse Mostafa. Seus projetos incluem cápsulas de fuga de áreas de alto tráfego que podem servir como uma fuga para aqueles que se sentem superestimulados. “Mas”, observou ela, “eles também criam espaços com circulação de ar diferente, ocupados por menos pessoas”.
Ouvindo-os descrever várias abordagens para estarmos juntos enquanto permanecemos separados, foi fácil ver como pessoas com autismo, e outros grupos que enfrentaram dificuldades no ambiente construído, estão em uma posição especial para identificar soluções criativas para os desafios espaciais que o vírus representa – e para sugerir melhorias para as falhas de design generalizado que ninguém mais identificou ainda. Talvez o Covid possa inspirar colaborações mais amplas.
Mas o medo também tem o potencial de desencadear respostas reacionárias. Sanders enfatizou esta preocupação cada vez que falávamos. Ele teme que o financiamento destinado à expansão da inclusão seja desviado para tornar as instalações existentes mais seguras para aqueles a quem já privilegiam. Ao longo da história, ele observou que o ambiente construído tem refletido e reforçado a desigualdade ao separar fisicamente um grupo de outro, muitas vezes no suposto interesse da saúde ou segurança. Os banheiros somente para mulheres, assim designados pelos homens, supostamente preservaram sua inocência e castidade; os banheiros somente para brancos separaram seus usuários de pessoas negras supostamente menos “limpas”. Não é coincidência que o Covid-19 tenha adoecido e matado desproporcionalmente membros de grupos demográficos – pessoas negras, indígenas e latinas; que são desabrigadas; que são imigrantes – que têm sido alvos de segregação sistêmica, o que aumentou sua vulnerabilidade. Também não é difícil imaginar a pandemia, e o risco relativo de infecção de uma pessoa, sendo usada para justificar novas versões destas práticas discriminatórias. “Quem será demonizado?” disse Sanders. “Não devemos” – ele bateu no que parecia uma mesa de vidro para enfatizar – “repetir os erros do passado”.
Mabel O. Wilson, professora de arquitetura e Estudos Afro-Americanos e da Diáspora Africana na Universidade de Columbia, acha que a covid “poderia ser alavancada para lembrar às pessoas que muitas pessoas não se sentem confortáveis em público”. Mas isso não significa que ela será. “Meu senso é que o que vai acontecer é que, ter salas limpas, ter maior circulação de ar, vai ser a competência dos ricos que podem pagar por isso em suas casas”, diz ela. “Será determinado pelo mercado e não necessariamente será um bem público”.
Um futuro no qual nos misturamos novamente é difícil de prever agora. No nível mais básico, o que deve acontecer para que a sociedade retome é isto: você se aproxima da porta de um edifício, abre e passa por ela e navega até um destino dentro dela. Os arquitetos chamam esta série de etapas críticas de “seqüência de entrada”, uma viagem através da qual uma pessoa está decidindo se deve sair ou ficar. No final de maio, Marco Li, um associado sênior da MIX, criou planos e renderizações em 3-D de uma seqüência de entrada em um hipotético prédio do campus que incorporou algumas das idéias do grupo para adaptações pandêmicas. Ele as mostrou para Sanders, Bauman e Choe por teleconferência. Eles tinham convidado um colaborador frequente, Quemuel Arroyo, que é um ex-chefe especialista em acessibilidade do Departamento de Transportes da cidade de Nova York e um usuário de cadeira de rodas, para criticá-los durante uma chamada de vídeo. Os protótipos tinham o objetivo de provocar uma discussão sobre como eles poderiam repensar as seqüências de entrada nas universidades, bem como nos museus e estabelecimentos de saúde. “O que os arquitetos fazem bem”, disse-me Choe, “é fornecer imaginação em termos de projetar algo que não existe. Uma vez que as pessoas o vejam, podem falar sobre isso”.
Depois da porta principal, em um vestíbulo, as rotas de entrada e saída unidirecionais foram mediadas por um plantador. Cada lado tinha uma estação de higienização manual ao longo da parede. Uma segunda porta interior separava esta zona de transição do resto do edifício. Uma vez dentro, o visitante encontra um amplo vestíbulo. Do outro lado, diretamente à frente, um balcão de informações foi posicionado de trás para a frente com um banco de armários. Atrás dessa divisória, havia cubículos-banheiro multigênero; salas, com chuveiros, que podiam ser usadas por cuidadores, mães que amamentam e até mesmo por pessoas que se deslocam de bicicleta; e salas de oração e estações de lavagem de pés para práticas religiosas. Os lavatórios ativados por movimento encostam ao passadiço. O espaço agora é mais um “centro de bem-estar” do que um “banheiro”, disse Sanders – então eles decidiram colocá-lo bem na frente em vez de escondê-lo.
Ao longo de todo o saguão foram delimitadas “zonas calmas”, marcadas por um piso de cor e textura diferentes, com opções flexíveis de assentos. “Torna-se particularmente importante com o covid diferenciar os corpos em repouso dos corpos em movimento”, disse Sanders, para que as pessoas não se chocassem umas com as outras. “A definição dessas áreas por intensidade de cor permite que as pessoas localizem onde elas precisam estar no espaço”. Alguém que está evitando um obstáculo, ou que está confuso ou perdido, causa uma ondulação de movimentos imprevisíveis em outros. “O distanciamento social não são pessoas paradas no espaço em uma linha pontilhada na mercearia”, Bauman havia observado anteriormente. “É uma situação dinâmica”.
Arroyo perguntou sobre a demarcação textural entre as áreas onde as pessoas andam e onde elas se sentam. Sanders explicou que os usuários cegos podiam senti-los com uma bengala. “Estas bordas detectáveis são chanfradas?” perguntou Arroyo. “A maioria das pessoas em cadeiras de rodas odeia isso. Certifique-se de que essas áreas são detectáveis, mas que não ofereçam perigo de tropeçar”. Ele também observou que nenhum dos lavatórios de banheiro era suficientemente baixo para uma pessoa sentada. “Em um mundo de Covid e germes sendo compartilhados, o que mais me irrita são superfícies planas, porque a água se acumula”, disse ele. Quando ele chegou à torneira, a água parada pingou no seu colo e molhou suas mangas.
Por um momento, me identifiquei: levar meu filho de 5 anos de idade a um banheiro público quase sempre faz com que sua camisa fique ensopada. Eu tinha imaginado que pais melhores que eu conseguiam evitar isso de alguma forma. O alívio que senti ao saber que isto era um problema para outra pessoa – que a culpa poderia ser da pia, não minha – foi instrutivo ao pensar no trabalho de Sanders, que no papel nem sempre parece tão diferente dos lugares que habitamos agora.
“A missão de Joel para a MIXdesign é tornar ambientes inclusivos tão inevitáveis que ficam invisíveis”, diz Deborah Berke, reitora da Escola de Arquitetura de Yale e fundadora de uma empresa de design epônimo em Manhattan. “Visível é colocar uma rampa do lado de fora de um edifício e dizer: ‘Pronto, está acessível’. O invisível é ter um prédio que ninguém vê como adaptado. Ele simplesmente funciona para todos”.
Quando não percebemos o ambiente, este está silenciosamente afirmando nosso direito de estar lá, o nosso valor para a sociedade. Quando o fazemos, muitas vezes é porque ele está nos dizendo que lá não é o nosso lugar. Essas mensagens podem ser tão sutis que não as reconhecemos pelo que elas são. “Caminhamos sonâmbulos pelo mundo”, disse-me Sanders. “A não ser que o interior de um edifício seja marcadamente diferente ou luxuoso ou incomum, nós não estamos cientes disso”. A covid, ele acrescentou, “está forçando todos nós a estarmos conscientes de como o design dita como experienciamos o mundo e uns aos outros”.