Atualização – em tempo, um vídeo extremamente relacionado ao tema:
Categoria: Postagens
Para ser feliz, não basta acreditar
Outro texto escrito em 2011 em que uma ideia de Graeber aparece (eu adicionei agora deliberadamente o termo “ataque à imaginação” pra apontar o conceito).
Hm.
Se a coerência interna ainda vale de alguma coisa, teorias contemporâneas de aceitação do mundo e “desimportanciamento” da dinâmica efetiva de existência são simplesmente nojentas, e é preciso fazer com que isto seja notado. Quer dizer que todos têm chance de serem felizes, pois isto é apenas um estado de espírito, uma atitude racionalmente controlada e induzida que pode, portanto, causar por A + B a felicidade? Então façamos o seguinte: perguntemos a tal proponentes do absoluto domínio do homem sobre sua redoma de ignorância se eles aceitariam trocar de vida com alguém dos estratos mais baixos do nosso Brasil. Se forem minimamente coerentes, devem dizer sim, pois o modo como encaramos a vida deve bastar para nos fazer felizes. Mais nada importa.
O que pretendo demonstrar não é a preponderância da dita “realidade” sobre visões de mundo particulares, mas apenas que o inverso é uma presunção igualmente sofrível e um absolutismo tão ruim quanto, se não pior. Até mesmo a mais “infeliz” das pessoas, dadas suas circunstâncias, deveria buscar ser feliz, mas não se pode desvincular suas condições objetivas dos esforços práticos para alcançar tal estado de espírito. Eu diria, inclusive – e talvez esse seja justamente o objetivo dessa ideologia que visa fazer vencer por W.O. a dinâmica do status quo, ou seja, realizar o ataque à imaginação de Graeber – que a própria ideia de que é possível ser feliz apenas decidindo sê-lo, pois “somos o que pensamos”, é justamente a teoria da preponderância da realidade, pois implica um reconhecimento de impotência frente à realidade. Dessa impotência surge o ressentimento e a vingança é o isolamento do mundo e o mergulho no eu: nele se reconhece a única fonte permitida de felicidade, significado e vida. A realidade da vida é empobrecida à medida que não se permite experimentar o contato com o mundo: o mundo é negado. Da mesma forma que em Platão o mundo das ideias, inatingível, é o real, aqui o mundo interior, atingível e manipulável através de jogos de consciência e linguagem, torna-se o real, e o mundo externo torna-se secundário e subordinado (quando deveria ser… Parceiro? Um igual? Um adversário?).
Reforma e revolução na pós-modernidade: pensamentos soltos sobre uma mudança silenciosa
Escrevi esse texto em 2011. Ao revisitá-lo em 2015 muitas partes me pareceram obscuras, e as reformulei ou excluí de todo. Ainda agora não tenho certeza se entendi tudo que escrevi, mas não quis deletar muita coisa porque, bem, vai que faça sentido pra alguém, não é mesmo?
O que achei interessante (e parte do motivo pelo qual decidi seguir em frente e republicá-lo) é como isso se aproxima ao que David Graeber fala sobre a “revolução” contemporânea, mesmo que eu só tenha conhecido Graeber de verdade em 2014, acho. Isso me deixa… Satisfeito.
O labirinto de concepções, pressupostos e estratégias argumentativas que se alimenta do ethos do pós-modernismo nos permite com relativa facilidade – e aí mora o perigo – dispensar possibilidades de transformação. E, à bem da verdade, o pós-modernismo não tem um papel tão importante quanto a ciência, com sua ambição analítica; vemos as partículas, mas esbarramos no todo, e o todo revela-se um rolo compressor (repressor) que nos asfixia à menor menção do agir.
É pensando assim que não formamos grupos para conseguir as coisas porque, bem, grupos nunca dão certo. Os próprios “trabalhos em grupo” com os quais nos acostumamos desde crianças por causa da escola são apenas oportunidades para criar (e mais tarde, reforçar) a certeza de que seres humanos são filhos da puta. De forma semelhante, quem quer que se proponha a defender o anarquismo vai encontrar quem aponte as falhas nas aspirações mais elementares da proposta – e fazem isso porque supõem que apenas o sistema econômico e o político vão mudar, quando na verdade a transformação deve se dar também na ordem do cultural, do social, do simbólico.


A questão é que toda proposta de modificação de um sistema deve necessariamente assumir a tarefa de reformular o sistema inteiro e não apenas uma parte. Seja a proposta reformista ou revolucionária, mudar uma parte da sociedade implica mudá-la por completo no fim das contas. Ser revolucionário significa querer mudar tudo de uma vez, e ser reformista implica agir em um único elemento (de cada vez). Descobrimos, aí, que a reforma pode parecer mais fácil, mas é na verdade tão difícil quanto a revolução, se não mais.
Primeiro porque ela estica a mudança no tempo, e isso por si só já indica maior desgaste. Para explicar a segunda razão podemos partir de uma pergunta fundamental: por que a reforma parece ser mais fácil? Porque quem opta pela reforma geralmente se foca em um setor, e lida indiretamente com as consequências sistêmicas da mudança – ou não lida em absoluto. Sendo assim, a reforma leva a dificuldades, sim, mas dificuldades descentralizadas e distribuídas. Enquanto isso, na revolução, especialmente aquela que têm líderes claramente definidos, carismáticos (um povo que segue suas ideias, que age como massa de manobra e não com autonomia) são eles os responsáveis por impulsionar a transformação, e portanto concentram a dificuldade, tornando-a aparentemente maior.
Como se espera mudar a lei sobre algo importante sem que isso signifique uma mudança nos costumes, nas práticas institucionais, nas reivindicações de determinados setores sociais? Tudo muda, tudo se transforma – mas os reformadores da lei não têm que lidar com todas essas mudanças e microrrevoluções. E, ao mesmo tempo, a transformação não se opera do dia pra noite: leva mais tempo, porque é como se cada setor da sociedade vivesse sua própria revolução, e a vitória de forças conservadoras ou progressistas alavanca ou põe uma barreira no desenrolar da vontade reformista, que vê com pesar seus aliados perdendo em diferentes regiões da sociedade, e com alegria suas pequenas vitórias em outros rincões.


Até na ação reformista – que para a “microescala” dos proponentes da ação parece revolucionária – se faz sentir a grandeza de um mundo que não para pra perguntar aos seus habitantes o que eles querem, porque a vitória depende de tantas vitórias, tantas situações, tantas decisões que simplesmente não lhes pertencem… E isso que nesta análise eu sequer considero a diferença hierárquica entre as decisões que se tomam em uma associação de bairro e o supremo tribunal federal.
E a revolução, o que quer? A tudo transformar de uma vez. Mas existe um modelo que não signifique o exposto acima? O cenário de líderes vanguardistas que tenham a tarefa de reformular o mundo (deles)? É possível que todos queiram a transformação, tenham ideias sobre as transformações, e as ponham em prática, transformando em conjunto e sem hierarquias o conjunto (não de pessoas agora, mas de instituições)?
Ainda assim, se todos têm uma ideia diferente de realidade e de como a sociedade deveria se organizar, talvez o melhor caminho seria tomar como tarefa de tal força revolucionária a construção de mecanismos para a conversão e a interoperabilidade entre grupos de pessoas que decidam se organizar de uma determinada maneira. Isto é, que cada um encontre seus companheiros e forme comunidades de sentido, a cada um conforme sua vontade criativa sobre o tempo que lhe resta, mas que essa atomização não signifique o enfraquecimento dessa comunidade mais ampla que possibilitou isso tudo em primeiro lugar; até mesmo porque a união dessas microcomunidades pode ser, quem sabe, uma condição essencial para seu equilíbrio e continuidade. Então essas comunidades deveriam agir apenas para decidir padrões de comunicação horizontal.
Esse, creio eu, é um objetivo nobre para a revolução. Um objetivo que a reforma demoraria centenas de anos para conseguir; talvez jamais consiga porque o sucesso de uma área de atuação depende do sucesso das outras, e este processo seria tão lento... Mas, principalmente, talvez não consiga por causa da resistência a movimentos contraculturais, seja para fagocitá-los ou atacá-los. Ela é rápida, e os agentes, poderosos em seus campos: esse é o aspecto curioso sobre tanto um processo quanto outro (a revolução e a reforma).


Ser militarmente mais poderosa que outra, ser mais rica, ter mais indústrias, ter maior número de patentes, etc. Nunca se está satisfeito, na tradição ocidental, com a constância dos aspectos externos e materiais de uma sociedade; a estabilidade ganha sempre o nome de estagnação, e a vontade de progredir, crescer e expandir-se – expandir-se como um vírus no limite da vida – suprime toda a vontade das engrenagens da máquina de ter uma vida dobrada sobre si próprio. Isso tudo em troca de uma visão limitada, de requerimentos limitados, de conquistas pessoais limitadas, às vezes de liberdade limitada, de experiências limitadas. É o florescimento da sociedade visto no microscópio: as células vivendo a vida da planta em troca de alguns bocados de oxigênio.
Mas e hoje, o que temos? Vemos que as proposições raramente são a favor de obrigatoriedades. Ao invés disso, tenta-se abrir justamente opções – mas há quem não queira nem mesmo que outras pessoas pensem diferente… A questão, no entanto, é mais profunda, porque o pensamento diferente, como exposto acima, muda muita coisa, mesmo que pareça não mudar tanto assim. Vivemos interligados, às vezes por canais misteriosos. Somos um sistema.
Se pensarmos que aqueles interessados em viver uma vida diferente deveriam simplesmente se organizar para formar uma sociedade independente, à revelia da sociedade mainstream, então teremos uma ação que não é nem revolucionária nem reformista, porque não abarca quem não quer participar dela. O senso comum de estratégia, entretanto, diz que é preciso tomar cuidado, porque a partir do momento em que essa sociedade alternativa se forma, entra em competição ideológica com a outra, já estabelecida e ciosa de domínio sobre as mentes e corações dos humanos — mas entra fundamentalmente em competição por recursos, e aí o negócio se complexifica e velhas análises não parecem mais tão dispensáveis.
A estratégia óptima parece ser a criação de uma sociedade dentro da sociedade normal, utilizando de seus próprios recursos para formar uma rede que vai, pouco aos poucos, recriado os meios de subsistência e de expressão oficiais, substituindo-os por alternativas para conseguir, por fim, uma nova estrutura social que, uma vez completa e fortalecida do próprio sangue da antiga víbora, conseguirá se destacar e enfim viver por si só.
Todos os contos de fadas devem ser machistas?
Perdida é um conto de fadas contemporâneo interessante. É estruturalmente super sólido e bem amarrado. Mesmo com uma ou outra coisa pouco polida (alguém teve uma impressão nítida sobre a personalidade da irmã de Ian? Que personagem mais bidimensional, se-nhor! A Teodora foi mil vezes mais interessante.), todos os “beats” são martelados quase à perfeição, e o ritmo é ótimo, medindo bem coisas que podem ser problemáticas em outras histórias (por exemplo: quanto tempo alguém leva pra parar de pensar que está maluco e aceitar logo uma situação impossível? Demore demais e a história fica chata; demore de menos e fica pouco realista (cof cof Crepúsculo cof…) ou surreal, como Alice no País das Maravilhas). Os clichês são reciclados tão bem que funcionam redondamente. A heroína é órfã? Claro. Tem um personagem Dumbledore-Gandalf-Mestre-dos-magos guiando o protagonista? Certamente. O interesse romântico é tão perfeito em suas imperfeições que até seu peido deve cheirar a lavanda? Óbvio. (Não. Mas quando ele fala “porra” é super fofinho).
Analisado tematicamente, o livro segue sendo sustentável… Uma crítica à tecnologia se interlaça sem problemas com o despertar do amor romântico em meio a um mundo cínico. Só que a narrativa fica sim um pouco retalhada no final.
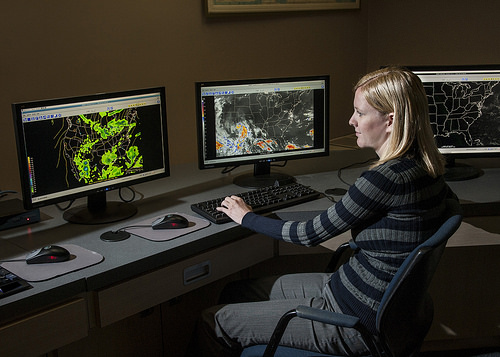

Veja, esse é um conto de fadas feito após o feminismo, mesmo que informado por uma vertente mais liberal e senso comum do movimento: a heroína se vira sozinha e é independente. Quer trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro no século XIX. Mais do que isso, não só a protagonista encara o sexo de forma bastante liberal como efetivamente quebra convenções dos contos de fadas de outrora. Isso é maravilhoso, sim, mas o céu vai começando a nublar depois de um certo tempo: Ian se torna “a vida” da protagonista. Nada mais – nada mais! – importa. Bem, não que ela fosse a rainha da Inglaterra no tempo presente – seu trabalho não lhe despertava tanto interesse assim a ponto de ser um grande sacrifício ela ter ficado no passado… Mesmo assim, qual é a mensagem que mais retumba depois do ponto final? O amor é mais importante que tudo? OK. Mas que tipo de amor? Você deve mudar completamente sua vida para poder ficar com quem você ama? Indo direto ao ponto: é uma boa ideia para uma mulher no século XXI deixar de investir em sua vida, sua carreira, seus amigos, sua cultura até, para ficar ao lado de um homem? Dá pra conservar o poder da primeira pergunta sem ser contaminado pelo germe da resposta “sim” à última?
E vamos falar do “amor”, outro ponto fraco do final do livro: o desenvolvimento da relação entre Ian e Sofia é adorável e num ritmo extremamente acertado. A gradação é realmente impecável! Mas no fim, as consequências parecem grandes demais pra combinar com o que foi apresentado: Sofia basicamente deixa pra trás sua vida (que, novamente, pelo menos a autora mostrou que não era nada demais… Se ela tivesse que deixar pra trás um filho, uma mãe doente ou coisa parecida AÍ O BICHO IA PEGAR) por causa de duas semanas com um cara gostoso, educado e cheio da grana – mas principalmente gostoso, isso fica bem claro. A mensagem responsável e sem tabus que o livro passa sobre o sexo é louvável, mas por outro lado mostra um ponto de inflexão muito interessante entre “Perdida” e “Orgulho e Preconceito”: sem qualquer tipo de contato físico, o que transparece da relação entre Elizabeth e Darcy é principalmente aprendizado e admiração. O que transparece da relação entre Ian e Sofia é… Tesão (até a última página do livro, diga-se de passagem). Tem a hora em que ele deve acreditar nela e sua verdade sobre a viagem no tempo, mas isso foi um plot point necessário e, bem, a mão dele foi forçada devido às evidências. Se em ambos os livros as mulheres só se realizam na vida quando casam, só um livro tem circunstâncias históricas que justificam um “pano de fundo” como esse. Se as heroínas de Austen e Rissi são semelhantes, a da primeira parece ascender a essa posição, enquanto a da segunda parece regredir.


Agora, vamos lá: Perdida é (merecidamente) um fenômeno pop, e Orgulho e Preconeito é uma obra de Arte com A maiúsculo à qual Perdida presta muita homenagem. E eu não acho que a culpa da relação de Ian e Sofia parecer superficial (como tudo que é grudado pelo “destino”, em vez de por vontade e luta, invariavelmente é) seja do sexo em si; eu não ia me importar muito se rolasse um “perdemos a linha, sr. Darcy” no final de Orgulho e Preconceito. Mas é curioso pensar nisso porque, afinal, juntando os pontos, você acaba com a impressão de que “O amor é mais importante que tudo” pode ser trocado, como lema de Perdida, por “Os hormônios são mais importantes que tudo”. O que acontece com a Sofia que escolheu ficar no passado pra sempre e, quando percebe que Ian na verdade não é tão interessante assim depois da 500a transa seguida, lembra-se que não tem facebook pra aliviar o tédio do século XIX? Bem, que bom que não temos que nos perguntar, já que existem continuações e talvez elas resolvam algumas dessas coisas que estou escrevendo sobre esse primeiro livro (que, aliás, é autossuficiente e esse é outro ponto positivo).
Há outros problemas. A escritora é hábil em não tornar a heroína uma “damsel in distress” por qualquer razão tola – mas vamos lá: Sofia nunca foi descrita como uma guerreira, portanto… Faz sentido que Santiago a domine fisicamente. É compreensível que suas condições físicas e psicológicas depois de uma noite de chuva a pusessem de cama por dois dias. É logicamente aceitável que, tendo aparecido no século XIX de um minuto pra outro, ela tenha que depender da ajuda de seu benfeitor para conseguir fazer basicamente qualquer coisa. Mas com quantos “é compreensível” ou “é aceitável” se faz uma suspensão de descrença? Uma hora o leitor tem que perceber que ela basicamente só exerce sua agência quando Ian permite, e raramente é algo que tem importância na história.
O mais engraçado é perceber como a autora tem que dar um “spin” apropriado para algo que seria simplesmente abusivo e, sinceramente, bem amedrontador (me peguei pensando uma ou duas vezes ‘ei carai, agora que o machão desce a mão nela…’): o homenzarrão pega Sofia pelo braço e a força a ouvir ou falar alguma coisa… Mas tá tudo bem, porque ela gosta da pegada dele e não quer realmente sair dali. Bom, que ótimo pra ela, né, porque se quisesse tava frita…


Em suma, o que eu acho é que o livro é realmente muito, muito bom em ser o conto de fadas que ele é. Ele funciona, é super bem escrito e faz duas coisas positivas: apresenta uma mensagem interessante do papel que o sexo tem numa relação que se baseia (assim deveríamos acreditar) no amor romântico, que tantas vezes no storytelling pop é um “puppy love” chato e casto que começa, eu desconfio, a não funcionar mais com adolescentes (O filme “divergente” é diferente, mas foi feito pros americanos puritanescos anyway). Outra coisa que faz bem é provocar uma discussão sobre agência, amor e desigualdade de gênero. Amor é entrega; é vulnerabilidade, diálogo, confiança e principalmente transigência, mas… Haveria algum modo de escrever essa história de um jeito que A) Sofia não se tornasse psicologicamente dependente do futuro marido; e ao mesmo tempo B) O final fosse igualmente feliz e romântico?
Não sei. Acho que sim, mas não sei. Não acho que “Perdida” seja um livro machista; longe disso. Mas acho que ele joga um jogo cujas regras foram escritas quando o mundo era muito diferente. Assim como há certos limites para uma mulher independente no século XIX, há certos limites, ao que tudo indica, para um conto de fadas realmente popular nos anos 10.
O futuro não pertence aos jovens


Um dia, no ônibus, fiquei ouvindo uma conversa entre um idoso e uma estudante de direito. Ele falava sobre a situação política no país (da qual ela não sabia muito – nem tinha ouvido falar das contas suíças de Cunha) e comentava que agora é com ela: a bola de resolver todos esses problemas estava com os jovens.
Ele repetiu isso algumas vezes e, confesso, foi me dando uma coceira na garganta. Não falei nada – estava cansado demais pra isso, mas me peguei pensando depois em quão injusto é esse senso comum de fácil aceitação. O futuro é dos jovens; pena que isso não é bem verdade…
Velhos morrerão, jovens crescerão
Em parte a lógica é sólida: quem está velho hoje não vai durar pra sempre e quem está jovem um dia vai compor a massa dos “líderes” – o tipo de pessoa que toma decisões na sociedade que impactam todo mundo; o tipo de pessoa que “rule the world”. John Mayer, meio-complacente-meio-irônico, já cantou isso em alto e bom tom: um dia vamos ser maioria, então só vou ficar aqui esperando o mundo mudar (será que ele é um daqueles marxistas que acredita na implosão espontânea do capitalismo?).
O problema lógico é gritante: o futuro pertence aos jovens apenas à medida que esses jovens fiquem velhos. O futuro (amanhã) pertence aos jovens de hoje, que amanhã não serão mais jovens, e por conseguinte o futuro na verdade pertence aos velhos.
A força da juventude
Muitos que dizem que os jovens são o futuro da nação o fazem segundo um certo otimismo, que costuma aparecer quando alguma criança, adolescente ou jovem adulto faz algo interessante e aí os mais velhos dizem: “é, bom mesmo, porque o futuro é de vocês!”
A questão é que essa “coisa interessante”, especialmente quando ela se trata de uma inovação ou de um grande esforço em prol de alguma mudança, pode estar ligado justamente ao estado mental do jovem enquanto jovem. O jovem costuma ter menos amarras à tradição, porque foi amarrado por menos tempo a ela (e às vezes quer definir sua identidade em oposição a ela); costuma pensar diferente, “fora da caixa”, e ser “ingênuo” o bastante para acreditar que mudanças profundas podem acontecer (a primeira condição pra que mudanças profundas de fato aconteçam).


Mas e quando este jovem estiver mais velho? A “força” que vinha de sua juventude muito provavelmente já era. Ele entrou no establishment e está envolvido com ele até o pescoço: mudar o status quo não é mais uma prioridade. As condições que possibilitaram a ele ser inovador, radicalmente engajado e descomprometido com velhas e desgastadas estruturas já foram erodidas. Isso não quer dizer que pessoas mais velhas não possam agir assim, mas essas são as qualidades que quem diz que o futuro é dos jovens em geral aponta como sendo dos jovens.
Mas pode ser o caso que não seja lícito (digamos, estatisticamente) pensar assim. Os mais velhos não perdem essa capacidade de transformação e inovação; isso é uma coisa de seres humanos, não só dos humanos jovens. Então, não seria o caso de cobrar deles (dos nossos “líderes” atuais, não dos vindouros) as mudanças que queremos?
As pessoas fazem a história…
Mas não fazem do jeito que querem, mais ou menos escreveu Marx. Existem condições específicas pra cada decisão; limites ideológicos e práticos do possível. No fundo Marx só reafirmou o óbvio, mas às vezes as pessoas parecem esquecer disso: o futuro é dos jovens porque eles um dia entrarão no governo, serão os gerentes e diretores das empresas, vão ser os artistas populares, etc, e vão mudar as coisas.
Óbvio que mudanças geracionais se acumulam e provocam mudanças culturais ao longo do tempo. Alguma mudança é inevitável, especialmente no campo dos costumes, dos gostos, do que é socialmente aceitável. Mas ainda assim esses jovens, tanto na educação quanto na formação profissional, ideológica, etc, foram profundamente impactados pelo que os mais velhos disseram e fizeram. Não só isso, mas a situação em que eles agiram quando jovens e na qual vão agir quando começarem a “liderar o esquema todo” quando mais velhos não é uma folha em branco; é antes um jogo cujas regras foram bem solidificadas pela geração anterior.


Dizer que o futuro é dos jovens é mais um ópio do povo (por que estou pensando tanto em Marx hoje? Damn!), que se compraz em esperar pelo melhor que vem aí (já tá ali, ó, quase aqui) ao invés de cobrar de quem poderia fazer a diferença agora que, enfim, a faça! E isso é particularmente importante, porque se trata de cuidar que quem ocupa posições de liderança cuide das circunstâncias em que as novas gerações vão agir, deixando o melhor legado possível. É o que deveríamos querer, não é? Deixar o melhor mundo possível para nossos filhos e netos?
Mas dizer que o futuro pertence aos jovens pode significar também outra coisa: antes de representar esperança e estafa frente a uma situação que parece impossível de mudar com “quem está lá” no momento, pode ser uma cobrança.
Onde estão os jovens?
Me diga: quando vocês pensam em um síndico, o que vem à cabeça? Provavelmente um homem ou uma mulher que, se não está aposentado, é mais velho. Em muitos prédios, também, o perfil de quem costuma ir à reunião de condomínio é dos que têm, no mínimo, uns 30 anos de idade.
Alguns que dizem que o futuro é dos jovens costumam apontar dedos: são vocês que têm que garantir a mudança. Fazendo protestos e, em geral, participando politicamente (tendo a “consciência política” que “falta a esses jovens de hoje em dia” (sigh)).
O que é bizarro é esperar isso dos jovens e, ao mesmo tempo, ter um limite de idade mínima pra ser candidato a certos cargos, como deputado, senador e chefes de executivo. Não é curioso? O que essa realidade normativa (os limites de idade) e descritiva (quem costuma participar de reuniões de condomínio, bairro, etc e exercer o cargo de síndico) nos revela? Ora, que é estranho conferir à participação política dos jovens o papel de protagonista no processo político de uma sociedade.


Jovens estão acordando pra tantas coisas pela primeira vez: não só quando se fala de adolescentes, mas mesmo ao longo dos anos 20 de alguém ocorrem descobertas vocacionais, profissionais, identitárias – existenciais mesmo. Além disso, o começo da vida é uma fase não só de planos (e dá mesmo pra culpar aqueles cujos planos só marginalmente incidem sobre a “política da nação”?) como também de preparação, um inferno técnico ao qual a sociedade contemporânea sujeita os jovens, mas que não obstante é real e exaustivo. Aqueles jovens de alta instrução, nos quais muitos depositam grande esperança, são aqueles que vão se matar de estudar a ponto de não realmente ter muito tempo pra política (como a estudante de direito que não sabia de um escândalo sobre o qual, tipo, ninguém para de falar). Os jovens de baixa renda e/ou instrução são aqueles que, quando estudarem (e cada vez mais fazem isso, o que é ótimo), vão conciliar isso com um emprego; quem sabe até dois.
Quando você já tem um trabalho que paga o bastante pra viver sem grandes preocupações; quando tem uma casa própria e seus filhos já cresceram e se não saíram de casa ainda, estão quase… É nessa hora que você começa a ter tempo de sobra pra observar e analisar a política (ou, sei lá, o próprio condomínio em que vive). Não só tempo, aliás, mas experiência. Uma noção melhor de muitas coisas, desde a administração até como lidar com pessoas e opiniões diferentes, que você vai ter encontrado muito na vida (e algo que, numa sociedade com um ethos mais democrático, seria mais comum e forte nos mais jovens e mais uniforme entre os mais velhos).
Os jovens pertencem ao futuro
Com tudo isso não quero sugerir que os jovens devam parar de se preocupar com política, nem que é justificável que não o façam. Também não quero dizer que é inútil todo movimento político da juventude, que na verdade tem bastante força em determinadas situações, e por mim, sinceramente, quanto mais, melhor. Mais ainda, tampouco pretendo cair no inverso da lógica que critico, desacreditando a juventude por falta de experiência. Uma vez que eu mesmo ainda seja jovem, seria o cúmulo da internalização da opressão uma besteira dessas.
O que pretendi mostrar é como essa ideia de que o “futuro pertence aos jovens” revela uma estratégia que convém ao status quo à medida que põe em evidência o pior lado da esperança: o fato de que ela é, em geral, passiva. Não há razão pra não lutar por toda sorte de melhoria e progresso hoje, tanto os jovens quanto os adultos, independente de quem ocupa posições de liderança. Jogar tudo nas costas de uma parcela da população ou desistir, esperando por condições melhores (quando os jovens de hoje mandarem na parada), é que parece ingênuo: ignora-se ou o quanto é demais pedir que a juventude carregue o fardo do progresso, ou o quanto essas condições futuras vão sendo moldadas constantemente e sempre por quem está no topo da pirâmide agora.
Outros de nós
Escrito em 2012
Eu estava apressado, tanto quanto as nuvens negras que sopravam gotas irritantes no solo pedregoso do estacionamento da Estácio de Sá. O pátio grande, quadriculadamente desajeitado e relativamente vazio servia como o caminho que melhor pesava segurança e rapidez no caminho do morro até a avenida do bairro. Estou atrasado para um trabalho que gosto de fazer, mas no qual não acredito completamente, embora não duvide que esteja em situação muito melhor que outros da mesma área. Um trabalho que, não por sua natureza, encontra-se pautado em rígidas e inescapáveis quase tradições do capitalismo contemporâneo. Ainda assim, visto uma camiseta velha e provavelmente desalinhada de tão usada; presente oblíquo e alienado, parcamente informado mas muito certeiro, de uma velha amiga. Uma camiseta preta com um grande “A” vermelho-quase-bordô e vergonhosamente rebelde de anarquia e anarquismo. Por força do sol, um casaco deslocado pendia do meu braço resmungão. Descia as escadas para entrar no estacionamento com passadas de dinossauro quando vi o cara.
O cara vinha na direção contrária. Senti imediatamente pena, como sentia de todos, porque eles teriam que subir um morro íngreme. Mas fui notando outras características. Um andar contido, que eu poderia adjetivar de militar se conhecesse direito algum militar, e um olhar indistinguível para a minha miopia exigente. Continuei andando, eu, e continuou andando, ele, e vi que ele também vestia uma camiseta preta. Uma camiseta que, com um pouco mais de classe, estilo e talvez vitalidade, estampava um outro A de anarquia e anarquismo. Um A de anarquização. Um A que pedia para ser visto, vistoso, e lambia as lens flares de um sol mexicano num cenário cheio de grama velha.
Meus passos tornam-se mais lentos já que a descida acabou, e os dele mais determinados. Parei de olhar para a camiseta e olhei para ele. Ele sabia que eu olhava para ele, e ele nem tentou disfarçar. Olhou para mim.
Tanta coisa podia ser dita. Quem seria aquele cara? Um militante? Um acomodado? Um adormecido, um incomodado? Um guerreiro, um filósofo, biólogo ou jornalista? Teria ele a alma jovem que o elixir rubro-negro (que nada tem a ver com o Flamengo) fazia se manter de pé perante injustiças, hierarquias e caralhos? Teria ele a mesma vontade de fugir às vezes, a mesma necessidade de realismo, a mesma vontade de tirar com os dedos uma costela de quem usa o termo de forma inapropriada, de quem confunde baderna com anarquia, de quem não acredita mais e quem não respeita quem sempre de fato acreditou no verdadeiro potencial humano de viver de boa numa lagoa?
Quem era aquele cara?
Nós nos olhamos e, com um sorriso discreto, um silencioso, nobilíssimo e pós-aristocrático aceno com a cabeça e, por fim, um conhecimento restaurado de que ainda há outros de nós por aí, seguimos nosso caminho pelas ruas de Barreiros.
O inferno de quem teoriza
Nós, vivos e pensantes, ficamos agoniados quando entendemos a teoria de alguém, ou ainda melhor, de sucessivas teorias ao longo dos séculos, e percebemos uma falha. Queremos logo pensar, escrever em algum lugar, contar pra alguém como aquela pessoa foi burra. Como Aristóteles podia pensar aquilo? E o que deu na cabeça de Kant? E Morgan, aquele imbecil? E o Levi-Strauss, hein? E o Marx, hein? E por aí vai.


Agora imagine a ânsia de quem já morreu e vê, do passado, ano após ano, novas pessoas descobrirem falhas em seus sistemas, e abrirem brechas por dentro deles até esmigalhá-los. Se a vida póstuma existe para um pensador, deve ser uma vida extremamente inquietante, seja no céu, seja no inferno, posto que ele não pode dizer mais nada. Nem pra se corrigir, nem pra se defender.
Caro humano

Traduzido (porca e rapidamente) daqui.
Locke é um nojentinho
“As posses do pai são a expectativa e a herança dos filhos. […] A importância deste vínculo é que ele influencia a obediência dos filhos.”. “E nisto (a procriação) […] encontra-se a razão principal, se não a única, de permanecerem mais tempo unidos o macho e a fêmea na raça humana do que entre outras criaturas.”
(Do Segundo Tratado sobre o Governo)
Épico


O que faz uma história ser épica é a grandiosidade de cada momento — é claro que você precisa de uma ambientação, de todo uma narrativa que envolva o leitor. Mas dentro do envolvimento, a história não pode se deixar levar só pelo que acontece, numa série de eventos banais que leva a alguma conclusão… Não se trata de altos e baixos, não é o arranjo bem feito da experiência. É preciso que cada coisa que aconteça seja (não literal e tecnicamente, mas em sua essência) algo grandioso, espetacular, importante, histórico. Mas, e aí que vem, mais do que isso, é preciso que a pessoa imagine coisas que não aconteceram ainda (e talvez nem aconteçam), e fique pensando em como vai ser, como se fosse o maior encontro do universo, a batalha das batalhas, o verdadeiro fim do mundo! Como Harry Potter e Voldemort (e antes deles Voldemort e Dumbledore, algo ainda mais épico, acho), como Gandalf e Sauron (e a batalha do Abismo de Helm e a de Minas Tirith), como Edmond Dantès e Fernand Mondego.
