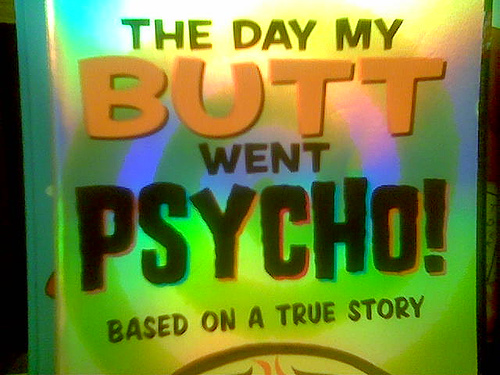Tradução de “Can’t Stop Believing: Magic and politics”, texto por David Graeber, publicado no The Baffler em 2012.
I.
Políticos são desonestos por definição. Todos os políticos mentem. Mas muitos observadores da política dos Estados Unidos concordam que, nos últimos anos, tem havido uma espécie de mudança qualitativa na magnitude dessa desonestidade. Em certos subgrupos de partidos, parece haver uma tentativa consciente de mudar as regras para que se permita um tipo de mentira flagrante e exagerada sobre os oponentes políticos que raramente vemos em outros países. Sarah Palin e seus “painéis da morte” foram pioneiros no novo estilo, mas Michele Bachmann rapidamente levou as coisas a patamares ainda mais espetaculares com suas afirmações malucas quanto a uma conspiração do governo para impor a lei islâmica nos Estados Unidos, ou planos secretos para abandonar o dólar pelo yuan chinês. Mitt Romney não superou Palin ou Bachmann na grandiosidade e na magnificência das mentiras, mas tentou compensar na quantidade, tendo baseado sua campanha presidencial inteira em uma sequência sem fim de fabricações. É quase como se os republicanos desafiassem a mídia e os democratas a chamá-los abertamente de mentirosos.
Como analisar isso? Primeiro, não pode ser uma coincidência que os três políticos supracitados são profundamente religiosos. Sarah Palin e Michele Bachmann são evangélicas; Romney foi um bispo mórmon. Nesses círculos religiosos, crenças e mentiras são coisas que se referem ao estado interno de alguém. É por isso que os apoiadores religiosos de tais candidatos não se preocupam quando a mídia revela que o que dizem é falso. Quando muito, esses apoiadores provavelmente vão ficar indignados com qualquer jornalista que sugira que mentir é o resultado de uma desonestidade consciente.
Carismáticos e evangélicos abraçam uma forma de cristianismo em que a fé é quase tudo que existe. Não se pode questionar a pureza das intenções de pessoas de fé, daqueles que se abriram ao espírito divino. E então algum elitista da mídia secular liberal vem e diz que eles são mentirosos?
O que a direita republicana está fazendo é uma versão teológica de um estilo essencialmente mágico de performance política: eles estão fazendo um universo “vir a ser” através de atos conscientes de fé. O limite é que – desde que o outro lado não seja burro o bastante para ecoar Bob Dole com a frase “pare de mentir sobre o meu histórico!” – a mágica só funciona naqueles que já os veem como moralmente superiores.
Para os liberais, é claro, isso tudo significa que os republicanos vivem num mundo de sonhos que eles mesmos produzem. Eles veem a si mesmos como uma comunidade de pessoas baseadas na realidade, o pessoal que insiste em agregar fatos e evidências e examinar o mundo do jeito como ele realmente é.
O origem dessa expressão (comunidade com base na realidade) já diz muito. Ela vem de um ensaio na revista do New York Times escrito pelo correspondente do Wall Street Journal Ron Suskind. Chamado “Fé, certeza e a presidência de George W. Bush”, o ensaio é, em grande parte, uma elaboração do mesmo argumento que acabei de apresentar, que para os fãs de Bush, a pureza de suas convicções interiores é só o que importa. Mas a passagem que fez fama a Suskind é uma em que ele faz menção a uma conversa com um “conselheiro sênior de Bush” anônimo que, diz ele, “vai ao cerne do mandato de Bush”:
O conselheiro disse que pessoas como eu estavam “naquilo que chamamos de uma comunidade com base na realidade”, que ele definiu como pessoas que “acreditam que as soluções surgem de um estudo judicioso da realidade discernível”. Eu fiz que sim e murmurei algo sobre princípios iluministas e empiricismo. Ele me interrompeu. “Não é assim que o mundo funciona mais”, ele continuou. “Nós somos um império agora, e quando agimos, criamos nossa própria realidade. E enquanto você está estudando a realidade – judiciosamente, como vocês fazem – nós vamos agir de novo, criando outras novas realidades, que você pode estudar também, e assim que as coisas vão ser. Nós somos atores da história… E vocês, todos vocês, vão ficar estudando o que nós fazemos”.
Para os liberais, essa passagem confirmou tudo em que eles sempre quiseram acreditar. Bottons e camisetas anunciando “orgulhoso membro da comunidade com base na realidade” logo apareceram. A frase se tornou um slogan. Mas há razão para acreditar que mesmo aqui as coisas não são exatamente o que parecem. Desde então outros jornalistas apontaram que o trabalho de Suskind geralmente combina uma suspeita frequência em que é muito bom para ser verdade com citações cujas fontes, quando são identificadas, veementemente negam terem dito o que Suskind afirma que disseram. Nenhuma outra pessoa alguma vez disse ter ouvido um conselheiro de Bush dizer algo remotamente parecido com isso. É possível que o próprio Suskind tenha inventado a história toda.
Seria a própria ideia de uma “comunidade baseada na realidade” uma premissa extraordinária? Na verdade, o que é realmente intrigante no debate político nos Estados Unidos hoje é que ambas a direita convencional (leia-se: extrema) e a esquerda convencional (leia-se: centrista) foram tão longe criando suas próprias realidades que uma conversa significativa se tornou impossível. Houve um tempo, por exemplo, em que liberais e conservadores poderiam discutir as raízes da pobreza. Agora eles discutem a existência da pobreza. No passado debatiam sobre como acabar com o racismo. Agora é comum ouvir conservadores insistirem que, justamente como os únicos mentirosos são aqueles que os acusam de mentirosos, os únicos racistas são os que acusam os outros de racismo. Mas o outro lado faz a mesma coisa. Se um conservador cristão quer discutir a dominância de uma “elite secular liberal” na cultura mainstream dos Estados Unidos, ou se um apoiador de Rand Paul quer falar sobre a relação entre a Reserva Federal e o militarismo do país, eles vão encontrar a mesma muralha de incredulidade.
Parece muito estranho que a esquerda convencional se identifique com a tradição do empiricismo iluminista quando seus grandes avatares passaram a última geração destruindo a própria ideia de uma realidade objetiva. A classe liberal tem seu próprio equivalente à igreja, afinal de contas, e ela é a universidade. A universidade tem os equivalentes aos teólogos, que interpretam os trabalhos de Gilles Deleuze, Michel Foucault e Jacques Derrida com a mesma reverência que pensadores radicais têm diante de Karl Marx. E o que tais autores fazem exceto jogar o projeto inteiro do iluminismo no lixo?
Tanto a esquerda democrática mainstream quanto a direita republicana, em outras palavras, têm trabalhado por muito tempo na tradição americana da mistificação, do hype e da fraude; mas eles o justificaram de formas diferentes. A direita tem dependido de uma lógica de fé e convicção interna; a esquerda já prefere uma retórica científica, e agora uma espécie de anti-ciência pós-estrutural – mas ambos realmente se resumem à mesma coisa.
Ambos são apropriados à base social de seus respectivos partidos – o 1% que os provê com fundos, culturas e sensibilidades. Os republicanos são, notoriamente, o partido dos negócios. É pouco surpreendente que idolatrem a confiança interna do CEO determinado e estejam dispostos a dizer o que for preciso para fechar negócio, e então fazer o que for necessário para gerenciar a empresa. Os democratas são o partido do que Barbara Ehrenreich há muito tempo chamou de “a classe profissional-gerencial” – um partido de professores, administradores de hospitais, advogados, trabalhadores sociais e psicoterapeutas. Pouco surpreende, portanto, que a maior expressão de seu weltanschauung seja os trabalhos de Michel Foucault, por pelo menos vinte anos um deus da academia contemporânea dos Estados Unidos, um homem que argumentou que os discursos profissionais são formas de poder que criam as próprias realidades que eles dizem administrar. Ou que durante os anos noventa e 2000, décadas em que a economia do país se tornou mais e mais explicitamente uma bolha econômica e o dinheiro de Hollywood e Wall Street em especial choveram no partido democrata, falar dessas ideias em círculos intelectuais se tornou algo mais e mais extravagante.
Não estou sugerindo uma conexão simples e direta aqui. Não é como se os acadêmicos americanos inclinados à esquerda fossem diretamente influenciados pelo dinheiro de Wall Street. Mas a beleza do sistema é que eles não precisaram ser. Eles viviam num mundo-bolha tanto quanto qualquer outra pessoa, e suas disposições teóricas existentes, nascidas do senso comum cotidiano de um mundo profissional em que o controle das impressões é tudo, refletiu a lógica de uma bolha econômica.
Eu lembro bem de conferências e seminários exatamente antes da crise de 2008, em que eu ouvia a apresentações complexas e cheias de jargão por parte de estudantes de teoria das culturas ou estudos da ciência, ou mesmo de cientistas políticos radicais. Eles diziam que a lógica emergente de “preemptividade”, “segurança” e “financialização” era um sinal não apenas do nascimento de formas novas e jamais vistas de poder social, mas também uma transformação da própria natureza da realidade. “Nós da esquerda precisamos aprender com os neoliberais”, eu lembro de ouvir um jovem graduando dos estudos culturais dizer (graduandos dos estudos culturais geralmente consideram a si mesmos a crista da onda da esquerda global, mesmo que não tenham nenhum ativismo político), “porque, para ser sincero, eles estão na nossa frente de várias maneiras. Quer dizer, esses caras descobriram como criar valor a partir do nada!”
Eu me lembro de responder “Sabe, o pessoal de Wall Street têm um nome para esse tipo de coisa. Chama-se ‘fraude'”. Mas eu não acho que as pessoas me ouviram. A maioria dos radicais acadêmicos se limitaram a uma linguagem teórica de acordo com a qual a própria ideia de fraude quase não faz sentido. Ao transformar ciência em anticiência, empiricismo iluminista em seu oposto, a esquerda acadêmica ficou com a noção de que a performance realmente é tudo que existe.
As tendências intelectuais foram do surgimento da “teoria da performance” em si no final dos anos 80, à emergência, nos anos 90, da teoria ator-rede, com sua insistência de que mesmo os objetos da pesquisa científica são criados por processos políticos de negociação, persuasão e construção de alianças entre cientistas, instituições, objetos, animais e micróbios. Mas a essência da questão é: durante o período em que a economia dos Estados Unidos (e por extensão a de todo o atlântico norte) se tornou cada vez mais baseada na produção de bolhas financeiras de um tipo ou de outro, seus intelectuais simultaneamente parecem ter decidido que absolutamente tudo é simplesmente o produto da performance política. A economia de bolha foi uma espécie de apoteose da magia política.
Mas como qualquer verdadeiro mágico (ou político bem-sucedido) pode revelar, não é assim tão simples. É verdade que todos aceitamos que um presidente é acima de tudo alguém que sabe como agir como um presidente; nós criticamos os candidatos por qualquer incapacidade aparente de atuar nesse papel. Mas se um candidato abertamente dissesse que ter “jeito” de presidente é a única qualificação necessária para ser presidente, suas chances de ser eleito seriam próximas de zero. No mundo real, todos os jogos de ambiguidade permanecem em ação. Tudo que temos feito é inventar razões para não refletir sobre eles.
Pelo menos o (possivelmente imaginário) conselheiro de Bush do Ron Suskind tinha ciência de que a fé não é suficiente quando se trata de criar novas realidades: você precisa de força militar também. A diferença entre o mágico e o político é exatamente essa: o conhecimento de que este último pode, se isso um dia se tornar necessário, solicitar a ajuda de homens armados – sejam eles do exército ou da polícia. Essa é a carta na manga.
Realidades políticas são sempre uma combinação obscura de medo, desejo e pensamento ambíguo. Você deve se perguntar se o cidadão médio acredita que a ordem política vigente é justa, ou se ele acredita que todos os outros cidadãos acreditam que ela é justa. Você deve se perguntar se ele acredita que há uma forma de realizar suas melhores ambições de outra forma que não em um mundo que ele já acredita ser uma fraude; você também deve se perguntar se ele acredita que tentar mudar as coisas, ou mesmo dizer em voz alta que o mundo todo é uma fraude, pode deixá-lo em maus lençóis (como revelou o recente destino do Occupy Wall Street, mesmo quando brancos de classe média vão às ruas dizer verdades inconvenientes nos Estados Unidos de hoje a violência é uma possibilidade real). E então você deve se perguntar se todo mundo acredita que vão ser violentados se eles tentarem mudar as coisas – ou apenas se todo mundo acredita que todo mundo acredita que é isso que vai acontecer. O salão de espelhos não tem fim.
II.
 Entre as distorções rotineiras, as meias-verdades oportunistas, e as ideologias chiques que agora compõem o discurso político, qualquer interlocutor honesto tem que se debater com a questão sobre como o auto-engano funciona como um sistema de crenças auto-administrado. Estudantes da arte da propaganda têm notado há muito tempo a imitação formal de ciência empírica que ela é, mas o fato de ela ser uma embalagem falsa não trata dos dilemas mais profundos quanto à crença autoconsciente em um método predileto de propaganda. A fórmula clássica do problema questiona como algumas pessoas podem se forçar a acreditar em algo que parece ser ilusório para outras pessoas. Mas essa fórmula presume que as pessoas não podem estar erradas quanto ao que elas acreditam. Será possível pensar que você acredita em algo quando, na verdade, não acredita, ou pensar que você não acredita em algo quando, na verdade, você acredita?
Entre as distorções rotineiras, as meias-verdades oportunistas, e as ideologias chiques que agora compõem o discurso político, qualquer interlocutor honesto tem que se debater com a questão sobre como o auto-engano funciona como um sistema de crenças auto-administrado. Estudantes da arte da propaganda têm notado há muito tempo a imitação formal de ciência empírica que ela é, mas o fato de ela ser uma embalagem falsa não trata dos dilemas mais profundos quanto à crença autoconsciente em um método predileto de propaganda. A fórmula clássica do problema questiona como algumas pessoas podem se forçar a acreditar em algo que parece ser ilusório para outras pessoas. Mas essa fórmula presume que as pessoas não podem estar erradas quanto ao que elas acreditam. Será possível pensar que você acredita em algo quando, na verdade, não acredita, ou pensar que você não acredita em algo quando, na verdade, você acredita?
Na verdade, há toda uma corrente de pensamento dedicada a entender como isso pode ser possível. O termo fetichismo aparentemente foi cunhado por comerciantes europeus no oeste da África, para explicar como seus colegas africanos faziam tratos comerciais. Isso foi nos séculos XVI e XVII, quando os europeus estavam atrás de ouro, em geral antes de começarem a comerciar escravos. Parece que em muitas cidades portuárias africanas daquele tempo, era possível improvisar um novo deus em virtude da ocasião comercial; era só trazer algumas miçangas, penas e pedaços de alguma madeira rara, ou então só pegar qualquer objeto peculiar ou de aparência significante que calhou de você encontrar ao longo da praia, e então consagrá-lo com uma promessa mútua. Fetiches mais elaborados que serviam para proteger comunidades inteiras poderiam consistir em esculturas, geralmente deslumbrantes, a qual as partes contratuais poderiam arranhar com as unhas, irritando o deus recém-criado para garantir que ele estivesse no clima certo para punir transgressores. Mas para um mero acordo comercial com um estrangeiro, uma tábua qualquer servia.
O ato de fazer uma promessa transformava o objeto num poder divino capaz de causar uma destruição terrível em qualquer um que violasse seus novos compromissos. O poder do novo deus era o poder do acordo. Tudo isso estava a um passo de significar que um objeto era um deus porque os humanos diziam que ele era, mas todos insistiriam que, não, na verdade, os objetos estavam agora investidos com um poder terrível e invisível. E se alguma catástrofe inesperada realmente acontecesse com uma das partes – o que não era nada incomum, considerando que os europeus quebravam seus navios em tempestades ou morriam de malária o tempo todo – alguém poderia sempre dizer que nada disso teria acontecido se os homens mortos não tivessem de alguma forma quebrado suas promessas.
Os comerciantes africanos realmente acreditavam no poder de seus fetiches? Muitos pareciam pensar que sim, mesmo que se eles com frequência agissem como se os fetiches fossem apenas conveniências comerciais. Mas o mundo dos encantamentos mágicos está cheio desses paradoxos. O que é absolutamente certo é que os europeus, acostumados a pensar em termos teológicos, simplesmente não conseguiam entender essa prática. Como resultado eles tendiam a projetar sua própria confusão nos africanos. Logo a própria existência de fetiches servia como prova de que os africanos eram absolutamente confusos quanto a assuntos espirituais; filósofos europeus começaram a discutir se o fetichismo representava o estado mais baixo possível da religião, um em que o fetichista estava disposto a adorar absolutamente qualquer coisa, uma vez que ele não tivesse teologia sistemática alguma.
Não demorou muito, é claro, para que figuras europeias como Karl Marx e Sigmund Freud se perguntassem: “mas somos realmente tão diferentes?”. Como Marx notou, a história ocidental é a história de nós criando coisas e então nos ajoelhando diante delas, adorando-as como deuses. Na Idade Média o fazíamos com hóstias, cálices e relicários. Agora o fazemos com dinheiro e objetos de consumo. Daí o famoso argumento de Marx sobre o fetichismo da mercadoria. Estamos constantemente manufaturando objetos pra nosso uso e conveniência, e então falando deles como se eles estivessem carregados com algum poder sobrenatural estranho que os torna capazes de agir por sua própria vontade – em grande parte porque, de uma perspectiva imediata e prática, isso bem que pode ser verdade.
Quando um negociante de commodities abre o Wall Street Journal e lê que o ouro está fazendo isso, o petróleo e a carne de porco estão fazendo aquilo, ou que o dinheiro está fugindo desse mercado e migrando para outro lugar, ele acredita no que lê? Certamente ele não acha que o faz. Não haveria nenhum sentido em chamar o negociante à parte e explicar que ouro e petróleo são objetos inanimados que não podem fazer nada por eles mesmos. A resposta seria pura irritação. É claro que é só um modo de dizer! O que você acha que eu sou, algum otário? Mas em todos os sentidos pragmáticos, ele de fato acredita nisso, porque todo dia ele vai até a bolsa de valores e age como se isso fosse verdade.